Este post também está disponível em:
![]()
![]()
Jacques-Alain Miller
Introdução
A questão do real foi a questão do século XX uma vez que o discurso da ciência, de modo particular, assenhorou-se da linguagem própria à retórica, e também confrontou a linguagem não com o verdadeiro, mas sim com o real. Concernindo ao nome próprio e avaliando até que ponto este nomearia o que verdadeiramente é, ou seja, o que é real, a famosa teoria das descrições definidas de Bertrand Russell (1905), rebento da empreitada de Gottlob Frege, é o anúncio dessa questão desde o começo do século.
A reflexão filosófica que provém dessa tradição tem como cerne a teoria da referência. Até que ponto a linguagem pode ou não tocar o real? Como a linguagem e o real se enlaçam, dado que a linguagem é potência de semblante e tem o poder de fazer ex-sistir ficções? Daí a idéia de que do ponto de vista do real a linguagem esteja doente, doente da retórica da qual ela está empapuçada, e que seria necessário curá-la por meio de uma terapêutica apropriada, para que ela verdadeiramente se torne conforme o real.
A grande ambição de Wittgenstein e de seus herdeiros é realizar uma terapêutica da linguagem, chegando a considerar a própria filosofia como uma doença que testemunha a infecção veiculada pela linguagem como potência das ficções. Não se trata de resolver as questões filosóficas, mas sim de mostrar que elas não se apresentam se nos curamos da linguagem, se a submetemos ao real.
É isso o que leva Lacan a passar do Nome-do-Pai ao Pai-do-Nome. Isso não é vã retórica. A nomeação – dar nomes às coisas, o viés por meio do qual Frege e Russell realizaram o questionamento da linguagem comum – não é a comunicação, não é a conversa fiada. A nomeação é a questão de saber como a conversa fiada pode se ligar a alguma coisa de real.
Em nosso vocabulário, é a função do pai que permite dar nome às coisas, ou seja, passar do simbólico ao real. Pode-se dispensar o Nome-do-Pai – Lacan o disse certa vez e Éric Laurent o fez passar ao uso corrente – sob a condição de dele se servir. Poder dispensá-lo significa dizer que o Nome-do-Pai, derivado do conceito de Édipo, não é da ordem do real. De fato, o Nome-do-Pai é um semblante relativo que tenta se fazer passar como sendo da ordem do real. Dito de outro modo, o Nome-do-Pai não é da ordem do que não cessa de se escrever. Eis por que Lacan elevou o sintoma, e não o Nome-do-Pai, como o que, na dimensão própria à psicanálise, não cessa de se escrever, ou seja, como o equivalente de um saber no real. Quando há o Nome-do-Pai, ele o é como uma espécie de sintoma, nada mais.
O sintoma é uma lei? Se ele o é, ele é uma lei particular a um sujeito, e podemos perguntar em que condições é concebível que haja sintoma para um sujeito. Se ele é da ordem do real, trata-se de um real bem particular, já que seria real para Um, e portanto não para o Outro. Como se sabe, é próprio ao real que só se o aborde um a um, e dessa constatação decorrem inúmeras conseqüências. Dito de outro modo, isso põe em questão o que é o real para a espécie humana.
Considerar que há sintoma para cada um dos que falam significa dizer que, no nível da espécie humana, há um saber que não se inscreve no real. No nível da espécie que fala, não há inscrição no real de um saber que diga respeito à sexualidade, ou seja, não há nesse nível o que chamamos de “instinto”, que leva, de forma invariável e típica para uma espécie, rumo ao parceiro.
O desejo não pode absolutamente servir-se disso uma vez que o desejo é uma questão. Isso causa perplexidade. A pulsão tampouco pode servir-se do instinto, já que ela nada assegura no nível do sexual em relação a esse Outro. Dito de outro modo, naquilo que o estimula a uma competição, a uma referência com a ciência, a existência do sintoma exige a modificação do conceito de saber no real que temos. Se há sintoma, então não há saber no real sobre a sexualidade. Se há sintoma como o que não cessa de se escrever para um sujeito, então há, de maneira correlata, um saber que não cessa de não se escrever, um saber especial. Não é o saber no real dado que ele não cessa de se escrever. Se há sintoma, é porque deve haver, para a espécie humana, um saber que não cessa de não se escrever. Esta é a demonstração que Lacan tenta fazer brotar da experiência psicanalítica. Se há sintoma, então não há relação sexual, há não-relação sexual, há uma ausência de saber no real que diga respeito à sexualidade.
É muito difícil demonstrar uma ausência de saber no real. O que, na experiência analítica, nos situa diante desta ausência?
O que a experiência nos ensina em cada caso que se submete à experiência analítica – Lacan nos fez perceber o seu valor e foi necessário que o formulasse para que isso se tornasse evidente – é a função determinante, em cada caso, de um encontro, um aleatório, um certo acaso, um certo “não estava escrito”.
Isto se expõe, se evidencia com bastante clareza, no relato que um sujeito pode fazer da gênese de sua homossexualidade, ou o mau encontro, instância que de alguma forma irrompe e à qual o sujeito atribui de bom grado tanto sua orientação sexual quanto o encontro com certas palavras que decidirão para ele os investimentos fundamentais que condicionarão em seguida o modo pelo qual ele se remeterá à sexualidade. Além disso, sabe-se que em todos os casos o gozo sexual se apresenta sob a forma do traumatismo, ou seja, como não preparado por um saber, desarmônico ao que já estava lá.
Dito de outro modo, a constância específica que pode ser balizada na experiência analítica é exatamente a contingência, ou seja, é a própria variabilidade o que localizamos como uma constante. E a variabilidade quer dizer que não há um saber pré-inscrito no real. Tal contingência decide o modo de gozo do sujeito, e é nisso que ela torna evidente a ausência de saber no real no que diz respeito ao gozo e à sexualidade: um certo “não está escrito”. Isso se encontra, e a partir daí o que funciona como real de referência não é mais o “não cessa de se escrever”, mas sim o “não cessa de não se escrever”, ou seja, a relação sexual como impossível.
Lacan procurou investigar, de uma forma que eu ousaria dizer torturante, a possibilidade de demonstrá-lo. O real de que se trata aqui é absolutamente diferente do real da ciência. Como demonstrar uma ausência de saber? Ele de bom grado permaneceu reservado quanto ao termo demonstração. Eis por que pôde dizer: “A experiência analítica atesta um real, testemunha um real”, como se, em nosso campo, a contingência regular, encontrada em todos os casos, atestasse o impossível. De alguma forma, trata-se de uma demonstração do impossível pela contingência.
É possível escrevê-lo no triângulo abaixo. O impossível, o “não cessa de não se escrever” é o nome da não-relação sexual (NRS); o necessário para cada um é o que “não cessa de se escrever” do sintoma. E se constatamos o particular do sintoma, ele a cada vez nos remete à NRS. O contingente do “cessa de não se escrever” o prova de algum modo, aparecendo sob duas formas essenciais: o encontro com o gozo e com o Outro, que podemos abreviar sob o termo amor.
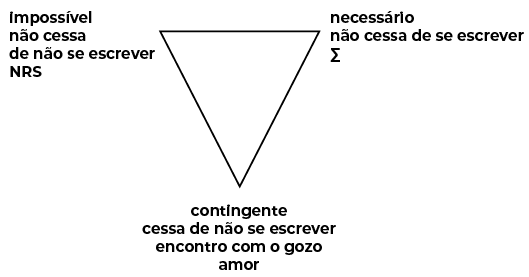
Neste contexto, o amor quer dizer que a relação com o Outro não é estabelecida por qualquer instinto. Ele não é mediada, e sim mediado pelo sintoma. Eis por que Lacan podia definir o amor como o encontro, no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo o que nele e em cada um marca o rastro de seu exílio da relação sexual.
É evidente que o parceiro fundamental do sujeito jamais é o Outro. Não é o Outro nem como pessoa, nem como lugar da verdade. Ao contrário, o parceiro do sujeito, o que psicanálise sempre percebeu, é algo dele próprio: sua imagem – a teoria do narcisismo retomada por Lacan em “O Estádio do espelho” – , seu objeto a , seu mais-de-gozar e fundamentalmente o sintoma.
Eis esboçada a teoria do parceiro.
Um complemento à teoria do sujeito
Há muito tempo, quando era filósofo, extraí do ensino de Lacan o que chamei de a teoria do sujeito. Reunindo certo número de considerações sob a rubrica “teoria do sujeito”, respondi a um convite do próprio Lacan, que por diversas vezes referira o sujeito do inconsciente freudiano ao cogito cartesiano alterado, modificado, reescrito por ele. A teoria do sujeito foi estabelecida para permitir a comunicação entre o ensino de Lacan e as filosofias, em particular, a filosofia cartesiana, os filósofos pós-cartesianos, em especial a filosofia crítica de Kant, de Fichte e a fenomenologia de Husserl.
Esta tentativa, obviamente datada, de minha parte não provoca qualquer repúdio, mas sim um complemento. A teoria do parceiro é o complemento à teoria do sujeito.
O parceiro-Deus, bifronte
Aliás, o próprio cogito cartesiano “Penso, logo sou” possui um parceiro. Isto não é absolutamente um solipsismo. Há um parceiro no jogo da verdade.
Que parceiro é esse? Em primeiro lugar, muito simplesmente, seus próprios pensamentos, ou seja, o seu primeiro parceiro é seu próprio “eu penso”. Mas dizê-lo, todavia, já é dizer demasiado porque ele não pode isolar o seu “eu penso” de seus pensamentos, a não ser que ele cesse de se confundir com seus pensamentos, cessando pura e simplesmente de pensar os pensamentos que ele tem.
E quando ele cessa de se confundir com os pensamentos que tem? Quando ele se interroga a respeito de seus pensamentos. É evidente que quando ele o faz, ele deles se distingue. Ele se interroga – que idéia! – a ponto de saber se eles são verdadeiros, e até mesmo de saber como saber se eles são verdadeiros ou não. Isso basta para pôr minhocas em sua cabeça, em seus pensamentos. A questão da verdade introduz as minhocas – questão da verdade que, em Descartes, não se distingue da questão da referência, já que se trata de saber se o pensamento, em nossos termos, toca ou não o real.
Logo, logo a questão da verdade faz surgir a instância da mentira sob as formas de um Outro que engana. Eis o parceiro que então surge para Descartes: um outro imaginário, fictício, um Outro que engana, que lhe põe essas minhocas na cabeça. É com esse Outro que ele joga sua partida. Meditações, de Descartes, é o nome da partida jogada com o Outro que engana, o Outro cujos pensamentos de Descartes seriam apenas produções ilusórias, que ele emite para desviá-lo.
De saída, a partida jogada com o Outro enganador parece perdida, necessariamente perdida, já que o sujeito concede onipotência ao Outro – “você pode tudo” – portanto a potência de enganá-lo em todos os seus pensamentos, mesmo os que lhe parecem os mais seguros. Uma partida desigual, radicalmente desigual. O Outro enganador logo o despoja, recolhe todas as fichas, que são os pensamentos postos em jogo pelo sujeito cartesiano: quanto eles valem? E o Outro que ele imagina limpa a mesa. Todos os pensamentos podem ser enganadores, não valer nada. Nenhum deles traz em si a marca da verdade. Nada lhe resta. “Tudo perdido, pela honra”, acrescentou um rei da França.
O que torna o conto cartesiano encantador é o fato de o sujeito encontrar o móbil de seu triunfo em sua ruína. Nessa renúncia radical, nessa máxima pobreza, despojado de tudo pelo Outro, que tudo pode, exatamente aí, ele encontra o seu ser. Ele o encontra em um puro “eu penso”, seccionado de qualquer complemento de objeto, um “eu penso” absoluto, no sentido literal, etimológico, ou seja, um “eu penso” seccionado, cortado.
O real e o pensamento coincidem quase por milagre. Uma vez usando este pequeno resto que lhe fica como resíduo uma vez salvo do Outro-que-tudo-pode, a partida está ganha. Um novo império está ganho, pois paulatinamente o sujeito do cogito recupera seu verdadeiro parceiro, isto é, o Outro que não engana, esvaziando portanto a ficção do Outro que engana.
É completamente diferente continuar a partida com o Outro que não engana. Sem dúvida onipotente, porém veraz, pois a onipotência – este é o axioma de Descartes – se amesquinharia pela mentira. A mentira sempre testemunharia um ser diminuído. Onipotente, portanto confiável. Um parceiro confiável, ainda que onipotente, é impotente, ele te deixa em paz. Descartes conquista em Meditações um Outro que o deixa na santa paz de Deus.
A vantagem do Deus de Descartes – continuamos vivendo às custas dos juros ganhos por ele – é que não precisamos nos inquietar com ele. Ele não te trairá, nem te pregará peças. Não forjará tocaias, tampouco surpresas. Não exigirá sacrifícios. O maravilhoso é que esse Outro onipotente se mantém bem tranqüilo. Ele representa tudo aquilo que estabeleceu de uma vez por todas. Podemos ocupar-nos de coisas sérias, pois ele é confiável e não nos incomodará.
Para Descartes, isso que é sério consiste em tornar-se senhor e possuidor da natureza. O Outro lá de cima não mete o bedelho nas coisas daqui de baixo. Aliás, ele não tem nada a dizer sobre nada. Onipotente! Onipotente, a ponto de não poder mentir. Tal é o giro extraordinário de Descartes: o Outro é tão potente, ele pode tanto, que não pode mentir, pois isso o diminuiria, não é digno dele, não está de acordo com a sua definição lógica. É o silêncio divino! Esse silêncio, é divino! Aliás, é o que nos permite, fora disso, ficar bestando por aí, pois estamos à espera de que ele faça vista grossa.
Devemos a Descartes o Deus dos filósofos. Foi ele que o pôs no mundo, ajudado pela teologia, que muito fez para calar a boca de Deus. Isso, porém, só se realizou plenamente com Descartes. O Deus para a ciência. O Deus deduzido, logicamente deduzido.
Este Deus, o parceiro-Deus, nada tem a ver com o Deus do texto, o Deus escrutado pelo significante bíblico. O Deus do texto bíblico é um Deus atormentado, mentiroso e atormentador, caprichoso e furibundo, irritado, que prega peças incríveis à humanidade, como a invenção de delegar seu filho para saber o que se fará dele, e como ele próprio aguentará o tranco. Pascal e Kierkegaard se relacionavam com o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, e isso era completamente diferente. Ter um parceiro como esse para jogar a partida não traz de forma alguma quietude, mas sobretudo temor e tremor.
Há uma diferença entre esses dois Deuses-parceiros: esse último deseja, o Deus da ciência não.
O primeiro capítulo da teoria do parceiro concerne ao parceiro-Deus, bifacial.
O parceiro-psicanalista desejo
O segundo capítulo poderia ser a psicanálise, dado que o sujeito nela busca e – espera-se – nela encontra um novo parceiro, o psicanalista. Com quem se parece o parceiro-psicanalista, o parceiro-Deus ciência ou o parceiro-Deus desejo? Com os dois. De um lado. há o analista-ciência. Procura-se o analista medalhão, bastante confiável, nada caprichoso, inalterável, ou ao menos que não se mexa muito. Lacan chegava a imajar essa parceria comparando o analista com o morto na partida de bridge, o que convidaria, portanto, o analista a sustentar uma posição cadaverizada, reduzindo sua presença a uma função do jogo e tendendo a confundir-se com o sujeito suposto saber.
Na outra face, porém, há o analista-desejo. Mesmo se o seu silêncio é divino, sua função comporta que ele fale ao menos de vez em quando, o que chamamos de interpretação. Isso conduz o sujeito a interpretar os ditos do analista. Desde o momento que o analista fala e se o interpreta, seu desejo entra no jogo. E não se recuou de fazer do desejo do analista uma função da partida jogada na análise.
Assim, se nos fizermos a questão de saber se o analista lembra o parceiro-Deus ciência ou o parceiro-Deus desejo, somos forçados a concluir que ele lembra os dois.
O que nos obriga a compará-lo com o parceiro divino? Sem dúvida é mais razoável compará-lo com o parceiro na vida, o parceiro vital. Observa-se com freqüência que se recorre ao parceiro-analista quando algo não vai bem com o seu parceiro na vida. Em uma análise, isso se revela às vezes desde o início, outras no decorrer da análise.
Queixamo-nos de nosso parceiro vital ao parceiro-analista de várias maneiras. Fenomenologicamente, isso ocupa parte considerável do tempo das sessões. Com freqüência, vamos ao encontro do parceiro-analista para perguntar o que devemos fazer com o parceiro vital, por exemplo, como pudemos ter sonhado em se juntar com semelhante praga. Ou ainda, para suportá-lo, para decifrá-lo, quando, por exemplo, não conseguimos entender o que diz, os sinais que emite, as mensagens ambíguas, equívocas, até mesmo maldosas, como se ele falasse por enigmas, e também por que nos ferimos com isso que ele nos diz. Em suma, tratamos a questão do desejo do parceiro junto ao parceiro-analista.
De maneira geral, uma mulher não consegue digerir o que diz seu homem, tampouco o que diz sua mãe. Isso vai longe, e toda regra tem sua exceção. Do lado do homem, freqüentemente o problema consiste em não conseguir escolher um parceiro, não estar certo de qual seria o melhor, caso tenha vários, ou se ele é bom, caso tenha um. Quando não o temos, e quando pensamos no fato de não tê-lo, nos perguntamos por quê. O que impede de tê-lo? Em todos os casos, recorrer à análise implica introduzir um parceiro suplementar na partida jogada pelo sujeito com um parceiro eventualmente imaginário.
A clínica, é o parceiro
Já podemos dizer que o que chamamos de clínica é o parceiro. Na análise, o parceiro é o real como impossível de suportar. Às vezes, o verdadeiro parceiro são os pensamentos, como para Descartes, no começo. É possível que o sujeito não consiga suportar os pensamentos que lhe ocorrem e sejam estes que o persigam. Como conseguir não pensá-los, como conseguir pensar em outra coisa? Em seguida, lá está ele recapturado por seus pensamentos. Ele se esforça em anular seu próprio “eu penso”, por exemplo, intoxicá-lo ou anestesiá-lo. É na trama com seus pensamentos que se joga a partida. É nela também que, em determinada forma clínica, pode ocorrer a idéia de suicídio, entendido aqui como uma forma radical de se divorciar de seus pensamentos.
Às vezes o parceiro essencial é o corpo, exatamente aquele que se tem na cabeça, o que encontramos tanto na histeria de conversão — menos freqüente hoje em dia, menos popular – como na clínica psicossomática.
Por fim, recorrer à análise é sempre substituir um casal pelo outro, ou minimamente sobrepor um ao outro. Aliás, o cônjuge, quando ele existe, nem sempre lida muito bem com isso; ele se opõe, tolera e, eventualmente, procura um analista. Como pude dizer certa vez, o cônjuge nem sempre é o sujeito com o qual estamos casados, tampouco aquele com quem dividimos a cama, o concubino.
À ocorrência de o parceiro cônjuge ser o pai chamou-se histeria feminina, e disso fez-se uma categoria clínica à parte. É claro que o parceiro cônjuge pode ser a mãe. O que nomeamos como o obsessivo? O sujeito cujo parceiro é o pensamento. No caso do Homem dos Ratos, fala-se sobre a dama de seus pensamentos. Trata-se antes, contudo, de seus pensamentos sobre a dama. Ele goza precisamente com seu pensamento. E o paranóico? O paranóico é aquele cujo parceiro é o que dizem os outros e que o visam de maneira maldosa.
O parceiro tem várias caras. Em uma palavra, o parceiro é multifacetado. Muita variedade, muita diversidade, mas não deixem de procurar o parceiro. Não se deixar hipnotizar com a posição do sujeito sem se perguntar: com quem ele joga a partida?
Na psicanálise, o parceiro é uma instância com a qual o sujeito está ligado de forma essencial, uma instância que lhe causa problemas e que eventualmente é enigmática.
As versões lacanianas do parceiro subjetivo
Como circunscrever o parceiro tomado nesse sentido? Em primeiro lugar, o sujeito não consegue suportá-lo, ou seja, ele não consegue mantê-lo homeostático. Nos primórdios da psicanálise, foi como se considerou o traumatismo.
Em segundo lugar, o sujeito goza repetidamente disso, como na análise. De modo geral, isso se evidencia. Isto significa dizer que o parceiro tem status de sintoma. Sem dúvida o parceiro sintoma é a fórmula mais geral para recobrir o parceiro multifacetado.
Façamos um pequeno retorno a Lacan, que de fato procurou saber quem é o parceiro fundamental do sujeito. A primeira resposta foi dada a partir de 1953: “um outro sujeito”. Trata-se de uma concepção dialética da psicanálise, a introdução de Hegel na psicanálise, tida como bizarra e apresentada por Lacan como um retorno a Freud. Nessa noção, há sintoma quando o Outro sujeito que é o seu parceiro fundamental não reconhece o seu desejo. Daí, o retorno ao analista como o sujeito capaz de reconhecer os desejos que não foram reconhecidos como deveriam ter sido no devido tempo pelo parceiro-sujeito.
Pois bem, esse retorno a Freud era uma simples roupagem? Um simples travestismo? Não se pode dizê-lo, primeiro porque Lacan foi aos textos de Freud, fez renascer a leitura de seus textos, na verdade um primeiro nascimento, pois eles até então nunca tinham sido trabalhados desta forma.
Contudo, havia uma necessidade profunda para que a introdução de Hegel na psicanálise se traduzisse como um retorno a Freud. Por quê? A dialética implica que o Outro sujeito, simetricamente, se institua na relação intersubjetiva. Se o paciente era reconhecido como o sujeito que devia se realizar na operação analítica, seu interlocutor, o parceiro, devia, ele também, ser um sujeito realizando-se na mesma operação. Disso decorre a necessidade lógica de valorizar o sujeito Freud, que fundou a psicanálise na própria operação analítica. Neste sentido, era necessário que tal introdução de Hegel se apresentasse como um retorno ao sujeito Freud, que inventara a psicanálise pela mediação dialética de seus pacientes. Por extensão, isso valeria para o próprio Lacan, reinventor da psicanálise no rastro de Freud.
Nessa primeira visão, a partida era concebida como sendo sempre jogada com um outro sujeito, até mesmo outros, conforme o momento da sua história, este ou estes outros não o reconhecendo como sujeito e o analista substituindo o Outro sujeito histórico reticente.
Ora, Lacan partiu daí, mas não parou, a problemática do parceiro permanecendo como eixo de toda a sua pesquisa. Ela implica – é o que falta à teoria do sujeito – que o sujeito como tal é incompleto, e que necessita de um parceiro, a questão sendo a de saber até que ponto ele o necessita. De fato, o primeiro parceiro inventado por Lacan, na via de Freud e de “Introdução ao narcisismo”, foi o parceiro-imagem ou, mais precisamente, o parceiro narcísico. “O estádio do espelho” narra que o parceiro essencial do sujeito é a sua imagem, e isso em razão de uma incompletude orgânica de nascimento, chamada de prematuração.
Foi daí que Lacan inventou o parceiro fascinante, porque não especular, o parceiro abstrato e essencial, cujo lugar encontramos na meditação filosófica: o parceiro simbólico.
A série dos parceiros
Prossigo declinando as versões lacanianas do parceiro subjetivo.
O primeiro dos parceiros é o parceiro-imagem e o segundo, o parceiro-símbolo. Uma série assim se esboça, cujos termos podem ser enumerados. Não é inútil interrogar-se antes dessa enumeração sobre o fim da série. E qual ele é? Situemo-lo imediatamente. O fim da série dos parceiros é o parceiro-sintoma.
imagem
símbolo
————–
sintoma
Jogar sua partida
Um parceiro é simplesmente aquele com quem jogamos a partida. Podemos nos referir à etimologia no que ela comporta de aleatório ou de contingente, sendo o contingente a própria marca do significante. A palavra parceiro provém de partner, palavra inglesa, importada pela língua francesa na segunda metade do século XVIII, o século francês no mundo em que era o francês a língua globalizada.
Por sua vez, o termo inglês partner foi tomado do francês antigo, curiosamente do termo parçonier, que significava “associado”[1]. Poderíamos traduzir parceiro (partenaire) com o termo associado. O parceiro é tanto o sócio com quem dançamos quanto aquele ao lado do qual exercemos uma profissão, ou partilhamos uma disciplina ou um esporte. É também aquele com quem conversamos ou transamos. Com o parceiro, somos parte interessada “em uma partida”.
A própria palavra partida (partie) mereceria que nela nos detivéssemos, destacássemos os paradoxos que chegam àqueles do objeto parcial, como se diz na psicanálise, e a partir do qual Lacan forjou o objeto a. A palavra partida designa o elemento do todo. Esta é a primeira definição do dicionário Robert. Na seqüência das definições, das traduções semânticas propostas pelo dicionário, descobrimos, de forma sempre ambígua, equívoca, que a palavra partida também designa o próprio todo, já que ela comporta as partes interessadas nesse todo. É por aí que a palavra partida está ligada ao jogo (jeu). Ela designa não só a convenção inicial dos jogadores, como também a própria duração do jogo, “no final do qual são designados ganhadores e perdedores”, diz o Robert.
Se esboço uma teoria do parceiro, é porque o sujeito lacaniano, aquele a quem nos remetemos, está essencialmente engajado em uma partida. Ele tem de maneira essencial, não contingente, mas sim necessária, de estrutura, um parceiro. O sujeito lacaniano é impensável sem um parceiro.
Afirmá-lo é aperceber-se do que há de essencial para o sujeito no que chamamos, desde Lacan, a experiência analítica, que não é nada mais do que uma partida, uma partida jogada com um parceiro. Trata-se de saber como compreender o que a partida de psicanálise pode ter de essencial para um sujeito, no sentido em que dizemos “a partida de cartas”. Como justificar o valor que pode tomar a partida de psicanálise para um sujeito senão postulando que existe fundamentalmente, e inclusive fora desse engajamento, quer este ocorra ou não, uma partida psíquica inconsciente?
O sujeito como tal está sempre engajado, quer o saiba ou não, em uma partida, o que supõe a existência da psicanálise, e que a partir desse fato, tentamos imaginar seus fundamentos, o que, por sua vez, conduz à hipótese de uma partida inconsciente. Se uma partida inconsciente é jogada para o sujeito, é porque ele é fundamentalmente incompleto.
A incompletude do sujeito foi ilustrada inicialmente por Lacan no estádio do espelho. Nos termos de nossa discussão, o estádio do espelho é uma partida jogada pelo sujeito com sua imagem. Ao considerarmos essa construção de Lacan, tendo como pano de fundo a elaboração psicanalítica, somos levados a dizer que “O estádio do espelho” é a versão lacaniana do narcisismo freudiano, do que Freud postulou em “Introdução ao Narcisismo” (1914). O narcisismo freudiano parecia propício para fundar uma autarcia do sujeito. Ele foi lido assim. Há um nível ou um momento em que o sujeito não precisa de ninguém, encontrando nele próprio o seu objeto. Fez-se do narcisismo freudiano a ausência de partida, e daí se suspeitou que seriam ilusórias as partidas que o sujeito poderia jogar em relação ao narcisismo. O estádio do espelho inverte essa leitura uma vez que ele introduz a alteridade no cerne da identidade-a-si, definindo desse modo um status paradoxal da imagem. A imagem de que se trata no estádio do espelho é ao mesmo tempo a imagem-de-si e uma imagem outra.
A partida imaginária do narcisismo, a-a’, foi descrita por Lacan como um impasse, tanto na vertente histérica quanto na vertente obsessiva da neurose. Dessa partida o sujeito sempre sai perdedor. Ele só sai às próprias custas.
Em seguida, como afirmamos acima, Lacan introduziu um outro parceiro que não a imagem, o parceiro simbólico, a partir da idéia de que a clínica como patologia se enraíza nos impasses da partida imaginária, impasses que necessitam de análise como partida simbólica. Supõe-se que essa partida simbólica ocasione o passe, isto é, uma saída exitosa para o sujeito.
A conversão de agalma em palea
Na perspectiva que tomo sobre a elaboração de Lacan a partir dos termos partida e parceiro, a análise deveria ser uma partida exitosa para o sujeito, o meio de ganhar a partida que ele perde no imaginário, e que constitui precisamente sua clínica. Daí o paradoxo da posição do analista como parceiro que, no sentido que Lacan lhe dá, é suposto jogar a partida simbólica para perdê-la. Como analista, ele só pode ganhar a partida sob a condição de perdê-la e de fazer o parceiro-sujeito ganhá-la. Sem dúvida a posição do analista comporta uma dimensão de abnegação. O que Lacan chama de “a formação do analista” se enraíza neste ponto: aprender a perder a partida que joga com o sujeito, de modo que o ganho seja do sujeito.
Talvez seja possível evocar, tal como presenciei, um fim de análise em sua rusticidade, sua ingenuidade, sua brutalidade, como diz Lacan, que valoriza o que isso comporta de ganho para o sujeito e de um certo desarvoramento correlato para o analista. Eis que ao fim de uma longa trajetória analítica o sujeito sonha que algo que só pode ser designado como porcaria sai de sua perna, de cor negra, a cor própria, dizem as associações, a um objeto do consultório do analista. Algum tempo depois, eis o sujeito que enuncia, com temor e tremor, que “ele é um porco”. Desse modo, ele faz recair sobre o analista a máscara do lobo que de fato se saciara com esse porco – ele próprio muito ativo do ponto de vista oral – durante anos. Algum tempo depois, esse sujeito, até então dócil, respeitoso, admirador do analista, termina por lhe dar uma flechada de Parthe[2]: “Você é um pentelho”. E isto é o fim. É o adeus, o golpe de misericórdia: “Estou vingado” – são esses os meios: a porcaria preta, o “sou porco” e o “você é um pentelho”.
Essa série constitui um fim de análise absolutamente sustentável. E eis o analista, lugar de verdade, reduzido à sua essência de merda. Como dizer de outro modo isso que para o sujeito desperta a sensação de um maravilhoso alívio na pesquisa da verdade e que não culmina na visão da essência divina? A elaboração verídica e os sentimentos que a acompanham, isso não passa de merda para o sujeito. Trata-se de uma verdade um pouco curta, mas isso pode, a meu ver, representar validamente um fim de análise, e não uma interrupção.
Nos três tempos que detalhei, percebemos uma envolvente, uma brutal – para o próprio sujeito – conversão do agalma em palea. A formação do analista situa-se exatamente no ponto de assumir a conversão do agalma em palea, e mais do que isso, de querê-la, mesmo que o sujeito seja a esse respeito ainda cego, que para ele isso seja impensável, inclusive doloroso pensá-lo.
O parceiro-símbolo
Falei sobre como Lacan descreveu as estruturas clínicas como impasses, não como impasses ilusórios, mas sim imaginários, no sentido de que a verdade tem estrutura de ficção. Com isso, procurava enfatizar que há tantos modos de tapeação, quanto de mentira, o passe sempre devendo ser buscado, desde o início de seu ensino, do lado do que não engana. Eis por que ele acreditou, a princípio, encontrar uma saída do lado do Outro, como Outro da boa fé, aquele que não engana.
Dessa forma ele distinguiu o outro imagem do Outro símbolo, afirmando que este último, por excelência, não engana. Como formula na página 455 de Escritos: “a solução dos impasses imaginários deve ser buscada do lado do Outro, distinguido por um A maiúsculo, sob cujo nome designamos um lugar essencial à estrutura do simbólico. […] o garante da Boa-Fé necessariamente evocada pelo pacto da fala”. Enfatizo aqui o termo ‘necessariamente’. Para o primeiro Lacan, havia algo “que não cessa de se escrever quando se fala”. É a referência ao Outro que não engana.
Isso não significa que, nos próprios termos de Lacan (:458), nos confins da análise, na zona que diz respeito ao chamado fim de análise e que também é a expulsão do sujeito para fora do seu impasse, deve-se restituir na experiência uma cadeia significante? Se opomos o parceiro-imagem e o parceiro-símbolo, o fim de análise é a restituição da cadeia significante.
A esse respeito Lacan considerava três dimensões. Uma dimensão referida ao significado, a da história de uma vida vivida como história, e isso supõe então a epopéia narrada pelo sujeito, a narrativa contínua de sua existência; uma dimensão significante, a percepção de sua sujeição às leis da linguagem; e o acesso à intersubjetividade, ao “eu” (je) intersubjetivo, por meio do qual a verdade entra no real. As três dimensões da cadeia significante última valem antes de mais nada pela ausência que irrompe, a saber, pela ausência de qualquer referência ao desejo e ao gozo. É isto o que a ideia de uma partida jogada com o parceiro-símbolo essencialmente comporta. A partida e sua saída exitosa deixam de lado tudo o que concerne ao desejo e ao gozo.
A fenomenologia da experiência analítica segue essa direção, pois nela abrimos mão de qualquer gozo assimilável ao que se obtém, de maneira mais ou menos satisfatória, com o parceiro sexual. A fenomenologia da experiência analítica parece pôr em evidência que o parceiro essencial do sujeito é o Outro do sentido. Como se diz, enfim pode-se falar na experiência analítica. Enfim é possível apor palavras sobre aquilo de que se trata, oportunidade que os acasos da existência não facilitariam ao sujeito. Dito de outro modo, parece que a análise funda, com seu método, com os meios empregados, o privilégio do semântico sobre o sexual.
Nesta perspectiva, a operação analítica pode ser definida como a substituição de todo parceiro-imagem pelo parceiro-símbolo. É aí, restituindo essa dimensão, que torna-se possível apreender a primazia, retomada por Lacan em um segundo momento, do falo freudiano como significante.
Tal como o mostro, percebe-se que isso comporta uma modificação do conceito de Outro. O Outro por mim evocado era o Outro da boa fé, o Deus dos filósofos. Considerar o falo como significante significa degradá-lo, afirmar que nele há desejo, motivo pelo qual Lacan considerou o falo como o parceiro-símbolo. Ele assim arranca o desejo do imaginário, atribuindo-o ao parceiro-Outro.
O falo é um significante. A inovação, que fez tremer a prática analítica em suas bases, quer dizer que o Outro não é apenas o Outro do pacto da fala, mas também o Outro do desejo.
Por essa razão, o parceiro-símbolo é mais complexo do que se pode pensar à primeira vista, o que levou Lacan a reler e reescrever a teoria freudiana da vida amorosa em que o parceiro-símbolo aparece, de um lado, como parceiro-falo e, de outro, como parceiro-amor, ou seja, não somente como o parceiro da boa fé em relação às tapeações imaginárias, mas também como um parceiro complexo que se apresenta com uma dialética diversificada segundo os sexos. É disso que trata “A significação do falo”, texto várias vezes comentado por mim.
Acrescentemos a nossa série o parceiro-falo e o parceiro-amor, apondo-lhes os pequenos significantes Φ e Ⱥ.
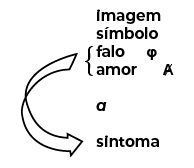
O parceiro a
Acrescentemos imediatamente o parceiro apresentado ao sujeito por Lacan: o parceiro pequeno a, parceiro essencial revelado por ele a partir da estrutura da fantasia. Não é o Outro sujeito, nem a imagem, nem o falo, mas um objeto extraído do corpo do sujeito. A partir daí Lacan elaborou o parceiro essencial, que o conduziu ao parceiro-sintoma, que é de maneiras diversas, o parceiro-gozo do sujeito.
Em “Posição do inconsciente”, Lacan institui de modo definitivo o campo do Outro face ao espaço do sujeito, representado por um conjunto. Encontramos aí de certa forma essa parceria fundamental entre o sujeito e o Outro, para mostrar que a sua raiz é o objeto a, e que o sujeito tem essencialmente como parceiro no Outro o objeto a. No interior do campo simbólico, no interior da verdade como ficção, ele tem de se haver, ele se relaciona e se associa, essencialmente na fantasia, com o objeto a. Este é de algum modo a substância não apenas da imagem do outro, como também do Outro.
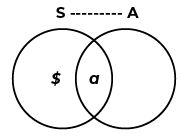 O que é a sexualidade? O que é o Outro sexual, se o parceiro essencial do sujeito é o objeto a, isto é, algo de seu gozo? Na época em que Lacan nos apresentava o esquema, ele dizia que “a sexualidade é representada no inconsciente pela pulsão”. Algum tempo se fez necessário para que ele percebesse que a pulsão não representa a sexualidade. Ela não a representa como relação com o Outro sexual. Ao contrário, ela a reduz à relação com objeto a. Que conseqüências podem ser extraídas dessa frase de Lacan? Ora, se a sexualidade só é representada no inconsciente pela pulsão, isto quer dizer que ela não é representada. Ela é representada por outra coisa, ela é uma representação não representativa.
O que é a sexualidade? O que é o Outro sexual, se o parceiro essencial do sujeito é o objeto a, isto é, algo de seu gozo? Na época em que Lacan nos apresentava o esquema, ele dizia que “a sexualidade é representada no inconsciente pela pulsão”. Algum tempo se fez necessário para que ele percebesse que a pulsão não representa a sexualidade. Ela não a representa como relação com o Outro sexual. Ao contrário, ela a reduz à relação com objeto a. Que conseqüências podem ser extraídas dessa frase de Lacan? Ora, se a sexualidade só é representada no inconsciente pela pulsão, isto quer dizer que ela não é representada. Ela é representada por outra coisa, ela é uma representação não representativa.
Lacan formulou de modo fulgurante a conseqüência dessa não representação com o “não há relação sexual”, o que significa dizer que o parceiro essencial do sujeito é o objeto a, alguma coisa de seu gozo, seu mais-de-gozar. Dito de outro modo, a invenção lacaniana do objeto a quer dizer que não há relação sexual.
O parceiro do sujeito não é o Outro sexual. A relação sexual não está escrita. O que isso quer dizer, essa fórmula é verdadeira ou falsa? Não se trata de dizer que ela é falsa, mas sim que ela não está no real. Ela está ausente, o que justifica, dá lugar à contingência, ou seja, demonstra a necessidade da contingência no que poderíamos chamar de “a história sexual do sujeito”, a narração de seus encontros. Em uma palavra, isso explica que só há encontros, o que Lacan descobrira ao isolar a função do significante.
Como a mais simples etimologia o mostra, o significante porta consigo o arbitrário. A derivação do sentido das palavras que utilizamos não está escrita como necessária em nenhum lugar. São sempre de encontros, cada palavra é um encontro, a incidência de cada uma delas no desenvolvimento erótico do sujeito está marcada por essa contingência, o que representamos sob a forma do traumatismo, sempre um encontro, sempre uma má surpresa. A história vivida como história é aquela das más surpresas que tivemos. Como Lacan o disse, muito antes de chegar à não-relação sexual: “[…] é pela marca de arbitrariedade própria da letra que se explica a extraordinária contingência dos acidentes que dão ao inconsciente sua verdadeira aparência” (Lacan, “A psicanálise e seu ensino”).
Uma análise só faz valorizar, destacar essa extraordinária contingência. Chamamos de “o inconsciente” as conseqüências dessa extraordinária contingência, ou seja, é a própria contingência que a instância do significante como tal imprime no inconsciente.
Como dizia, foram precisos dez anos para Lacan explicar a razão dessa contingência pela não-relação sexual. Se há essa contingência, é porque de maneira correlata algo não está necessariamente inscrito. O parceiro, na condição de parceiro sexual, jamais está prescrito, ou seja, programado. Nesse sentido, o Outro sexual não existe em relação ao mais-de-gozar, vale dizer, o parceiro verdadeiro essencial é o parceiro de gozo, o próprio mais-de-gozar.
Daí a interrogação sobre a escolha de cada um de seu parceiro sexual. Pois bem, o parceiro sexual sempre seduz pela forma como ele se acomoda à não-relação sexual, ou seja, só seduzimos por meio de nosso sintoma.
Eis por que Lacan dizia em O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-3) que é o “encontro, no parceiro, dos sintomas e dos afetos de tudo que marca em cada um o rastro de seu exílio da relação sexual” o que provoca o amor, o que permite vestir o mais-de-gozar com uma pessoa.
Trata-se de uma nova doutrina do amor em que este não passa apenas pelo narcisismo. O amor passa pela existência do inconsciente, o que supõe que o sujeito perceba no parceiro o tipo de saber que nele responde à não-relação sexual, ou seja, supõe a percepção, no parceiro, do sintoma que ele elaborou em razão da não-relação sexual. É precisamente sob essa perspectiva que Lacan elaborou, nesse mesmo Seminário, que o parceiro do sujeito não é o Outro, mas sim o que vem substitui-lo sob a forma da causa do desejo. Eis aí a concepção radical do parceiro que faz da sexualidade uma vestimenta do mais-de-gozar.
Quais as vantagens dessa perspectiva? Por exemplo, ela permite abordar as toxicomanias. A toxicomania segue as linhas da estrutura, ela é um anti-amor, pois prescinde do parceiro sexual e se concentra, se dedica ao parceiro (a)-sexuado do mais-de-gozar. Ela sacrifica o imaginário em nome do real do mais-de-gozar. Além disso, a toxicomania é atual, ela pertence a uma época que prefere o objeto a em detrimento do Ideal, uma época em que I vale menos que a
![]()
Se nos interessamos hoje pela toxicomania, que existe desde sempre, é porque ela traduz maravilhosamente a solidão de cada um com seu parceiro-mais-de-gozar. A toxicomania pertence ao liberalismo, à época em que nos lixamos com os ideais, em que não nos ocupamos de construir o Outro, em que os valores ideais do Outro empalidecem, desagregam-se frente à globalização de que ninguém está a cargo, enfim, uma globalização que prescinde do Ideal.
O sintoma é metáfora da não-relação sexual
O que o inconsciente interpreta? Façamo-nos a questão. O inconsciente interpreta precisamente a não-relação sexual, e ao interpretá-la, cifra a não-relação sexual, ou seja, a cifração da não-relação sexual é correlata ao sentido que ela assume para um sujeito. É o sintoma o que inicialmente libera a cifração da não-relação sexual, e nisso ele vai mais longe que o inconsciente, uma vez que é suscetível de se encarnar no que de melhor conhecemos, a saber, o parceiro sexual.
Fixarei assim essa fórmula ponto de basta, tentativa de problemas-soluções, que estabelece uma conexão entre dois termos do sintoma: S, na definição desenvolvida por Lacan e utilizada na última parte de seu ensino, e o símbolo do conjunto vazio, que escrevo abaixo por comodidade, para abreviar o que Lacan designou como a não-relação sexual.
![]()
Sem irmos mais longe, tomei o símbolo do conjunto vazio, certamente infringindo o fato de que essa relação não pode se escrever na definição lacaniana. Lacan jamais a escreveu, jamais procurou um matema da não-relação sexual, para exemplificar a impossibilidade de escrevê-la. O mérito de tal fórmula foi o de resumir o que pude desenvolver e estabelecer acerca da correlação entre os termos sintoma e não-relação sexual, escrevendo-a sob a forma de uma substituição, de uma metáfora. O sintoma vem no lugar, é metáfora da não-relação sexual.
A fórmula se completa com a modalidade destinada a cada um desses dois termos, uma vez que a não-relação sexual não cessa de não se escrever, de não comparecer ao lugar onde, por motivos certamente equívocos, nós a esperaríamos, enquanto o sintoma não cessa de se escrever, ao menos para o sujeito. A fórmula lembra assim que a necessidade do sintoma responde à impossibilidade da relação sexual. A não-relação sexual é uma qualificação de espécie, da espécie do ser vivo, que chamamos de espécie humana, e à qual, nessa dimensão, não podemos deixar de fazer referência. Tal fórmula quer dizer que não há ser proveniente dessa espécie que não tenha sintoma, ou seja, não há homem, no sentido genérico, sem sintoma.
A fórmula permite ver de forma elementar que o sintoma se inscreve no lugar do que se apresenta como falha, falha do parceiro sexual “natural”. Na espécie, o sexo como tal não indica o parceiro de nenhum indivíduo proveniente da dita espécie, e não basta, como Lacan o enfatiza, para tornar parceiros aqueles que têm relações. Isto é o que permite definir a palavra parceiro como o que se põe como termo da relação que não há.
Se há relação, quando se estabelece o que parece ser uma relação, é sempre uma relação sintomática. Na espécie humana, a necessidade, o “não cessa de se escrever” se escreve sob a forma do sintoma. Não há relação suscetível de ser estabelecida entre dois indivíduos da espécie que não passe pela via do sintoma.
Mais que obstáculo, o sintoma aqui é mediação. Em certo momento conduziu Lacan a identificar o parceiro e o sintoma. Poder-se-ia pensar que o parceiro é sintoma quando ele não é o bom. Pois bem, essa construção implica o contrário. O parceiro sintomatificado é o melhor, aquele com o qual estamos o mais perto possível da relação.
Assim, na experiência analítica, quando um sujeito testemunha que tem um parceiro insuportável, do qual se queixa, o bê-á-bá é de dizer-lhe que não é por acaso que se juntou a ele, e que tal parceiro lhe propicia o mais-de-gozar que lhe convém. É no nível do mais-de-gozar, caso se queira operar, que devemos operar. São casos como este que chamarei de união sintomática, e que tocam mais de perto a existência da relação sexual.
O conceito atual de sintoma
Pretendo avançar no conceito do sintoma em suas relações duplas com a pulsão e com o que chamamos, desde Lacan, de Outro, quase-matema que não possui apenas uma significação nem apenas um uso. Tento esclarecer e precisar este nome cifrado a que nos referimos, o objeto a.
Um modo-de-gozar sem o Outro
Gostaria de evocar a toxicomania no fio que começa a ser tecido a partir da dimensão autística do sintoma. Por que nosso interesse? A toxicomania é um modo-de-gozar em que aparentemente se prescinde do outro, que existiria para que se dispense o Outro, e no qual se goza a sós. Ponhamos de lado, sem esquecê-lo, que num certo sentido o próprio corpo é o Outro. Creio ser possível transmitir algo se simplesmente digo, se repito que é um modo-de-gozar em que se dispensa o Outro, e que por isso o gozo toxicômano tornou-se emblemático do autismo contemporâneo do gozo.
Tentei resumi-lo com o pequeno matema I < a. O que isso quer dizer? O I é válido, está em pleno exercício quando o circuito do modo de gozo deve passar pelo Outro social e o faz de forma evidente, enquanto hoje, como dizia Lacan, nosso modo de gozo, de agora em diante, situa-se apenas no mais-de-gozar. É isto o que constitui sua precariedade, porque ele não é mais solidificado, não está mais garantido pela coletivização do modo-de-gozar, ou seja, ele está particularizado pelo mais-de-gozar. De modo breve, ele não está mais engastado, organizado e solidificado pelo Ideal, sendo sua forma contemporânea funcionalmente atraída por seu status autístico. Como conseqüência, surge o problema de fazer entrar aí S(Ⱥ), de forçar o sintoma em seu status “autístico” a se reconhecer como significado do Outro. Esta não é uma operação anti-natureza.
Pensemos no ópio. O gozo do ópio é um sintoma que os ingleses, os imperialistas ingleses, os vitorianos propuseram intencionalmente aos chineses na bela época do Império. Certamente havia ali uma disposição, um pequeno fundo tradicional de gosto pelo ópio, mas este sintoma lhes foi sistematicamente proposto, e eles o adotaram. Esse sintoma convinha às finalidades de dominação e o Partido Comunista chinês, ao tomar o poder em 1951 – como já acontecia nas zonas que se tinham liberado do imperialismo – começou a erradicação política desse sintoma.
A fábula política e sua moral
Façamos um excurso e reflitamos a respeito de tal dominação pelo sintoma. Não há melhor forma de dominar, do ponto de vista do mestre, do que inspirar, propagar, promover um sintoma, ainda que isso pregue peças.
Quando os castelhanos derrotaram os catalãos, só lhes deixaram uma saída sintomática: trabalhar. Os catalãos começaram a trabalhar enquanto os castelhanos, os senhores, nada faziam. Após algum tempo o trabalho tornou-se evidentemente uma segunda natureza para os catalãos. Hoje quando já não mais estão dominados do mesmo modo, continuam a trabalhar.
Pensemos também no que aconteceu aos tchecos, quando, na batalha da Montanha Branca, a Boêmia foi derrotada pelos imperiais. Os tchecos começaram a trabalhar e continuam… Os austríacos, durante muito tempo, pararam. Hoje, tendo perdido o seu império, foram de algum modo forçados a trabalhar. É óbvio que simplifico uma história complexa.
Podemos observar o sintoma tornar-se uma segunda natureza, no sentido em que Freud explica a metapsicologia a propósito da neurose obsessiva em “Inibição, sintoma e angústia” (1926). Há um momento em que o sujeito adota o sintoma, o integra à sua personalidade, e cessa de se queixar. Isso é formidável. Nem os catalãos, nem os tchecos se queixam de trabalhar, antes são os outros que se queixam do excesso de trabalho deles.
Há, contudo, uma moral da fábula política. Nossa tendência espontânea é considerar o sintoma como uma disfunção. Dizemos sintoma quando algo claudica, porém a disfunção sintomática só se localiza em relação ao Ideal. Quando cessamos de localizá-la em relação ao Ideal, ela vira funcionamento. A disfunção é um funcionamento, é assim que as coisas funcionam.
É preciso reconhecer o quanto a psicanálise contribuiu para a precariedade do modo de gozo contemporâneo. Ela realmente fez muito para que a relação entre o Ideal e o objeto a tendesse para este último.
Quando recebemos um sujeito homossexual, vemos que parte da chamada técnica analítica consiste em não visar de modo algum o abandono da homossexualidade, salvo quando possível, ou quando desejado pelo sujeito. Ela visa essencialmente obter do Ideal que ele cesse de impedir o sujeito de praticar seu modo de gozo nas condições mais convenientes. A operação analítica visa aliviar o sujeito de um Ideal que eventualmente o oprime, e de colocá-lo em condições de manter com seu mais-de-gozar – o mais-de-gozar de que é capaz, o seu – uma relação mais confortável. A pressão da psicanálise certamente contribuiu para esta sensacional e contemporânea inversão dos fatores do modo-de-gozar.
O mestre também tem sintomas. Na história, foi a preguiça que permaneceu sob a imagem magnífica do Grande de Espanha, para quem de fato era degradante fazer o que quer que fosse. Ele estava congelado em uma preguiça divina, que, aliás, atingiu toda a Europa clássica. De certa forma, não mais nobre que o Espanhol, simplesmente porque ele não mexe uma palha. Prosseguindo na psicologia dos povos, na Inglaterra ocorreu exatamente o contrário, onde para uma aristocracia trabalhadora entregar-se ao trabalho não era decadente, o que lhe valeu resultados sensacionais durante um período de dominação do mundo.
É mais complicado situar a França. No século XVIII, brincava-se de trabalhar. Maria Antonieta e os carneirinhos são seus símbolos. Não a preguiça, mas sim a homenagem prestada ao trabalho das massas trabalhadoras. Isto mudou. A aristocracia francesa foi impedida de trabalhar. Quando o burguês gentil-homem se toma por um gentil-homem e diz: “Sim, o único dissabor que tenho é que meu pai vendia lençóis”, se lhe responde: “Nada disso, tratava-se de um gentil-homem que brincava com seus amigos de passar lençóis”. A nobreza de toga complicou o panorama, porém o que fundamentalmente mudou as coisas foi a ideologia do serviço público, a sensacional solução encontrada por Napoleão para mandar ao trabalho inclusive a aristocracia, para desse modo fabricar uma nova. Ele conseguiu que a nobreza não somente brigasse entre si – era este o sintoma essencial da nobreza francesa – como também que trabalhasse. Para tanto, inventou grandes concursos, as grandes Escolas, a meritocracia francesa e a produção de uma elite da suposta nação; uma aristocracia do mérito que hoje, de algum modo, fraqueja em seu funcionamento. O sintoma não funciona mais. O amor ao serviço público como sintoma cai em desuso. Até mesmo os assuntos de corrupção, com os quais nos encantamos todos os dias, testemunham o enfraquecimento do antigo sintoma que fora inculcado pelo mestre.
A esse respeito, é válido um comentário sobre os Estados Unidos, cuja vantagem foi a de não terem tido nobreza… Eles acabaram por ter uma, essencialmente a nobreza do dinheiro. A princípio ganha-se dinheiro de todos os meios e, em seguida, enobrece-se com a filantropia. Há os grandes museus americanos, as grandes coleções, todas procedentes de trabalhadores enriquecidos.
Fiz esse pequeno excurso para ampliar um pouco o conceito de sintoma. Sem ele, estaríamos de saia justa, tendo somente os sintomas da psicopatologia da vida cotidiana.
Os sintomas da moda
É preciso distinguir as drogas. O gozo da maconha é um sintoma que não rompe necessariamente com o social. Ao contrário, ele com freqüência é considerado como um adjuvante à relação social, ou mesmo à relação sexual. Eis por que o presidente Clinton e outros podem confessar terem tocado tal gozo sem por isso serem desconsiderados. Reencontramos aqui o critério lacaniano essencial a respeito do gozo toxicômano, verdadeiramente patológico quando preferido ao pipizinho, ou seja, quando longe de ser um reforço, ele, ao contrário, é preferido à relação sexual, a ponto de este gozo obter um tal valor para o sujeito, que ele o prefere a tudo, tendo ou não que praticar crimes para alcançá-lo.
Lacan foi obrigado a recorrer às ficções kantianas para explicar o gozo perverso. Kant considerava líquido e certo o seguinte: se disserem a você que o cadafalso o aguarda ao término de uma noite de amor com uma mulher, você renuncia à mulher. Lacan, por sua vez, diz que não se recua forçosamente, sobretudo se aí estiver em causa um gozo que vai além do amor à vida. É o critério propriamente lacaniano do gozo toxicômano como patologia.
A tolerância que se tem à maconha provém do fato de que ela de modo algum se inscreve nessa dinâmica de excesso, em relação a que pensaríamos evidentemente em opô-la à heroína, que, contrariamente, responde perfeitamente ao critério lacaniano. A fim de não deixar de particularizar as drogas, é preciso ainda opor a heroína à cocaína. A heroína está na vertente da separação. Ela conduz ao status de dejeto, até mesmo quando o dejeto é estilizado ou valorizado como acontece no mundo da moda, em que, durante anos, se fez uso para a admiração de modelos drogados, cuja postura e estado físico aludiam à heroína. Já a cocaína está na vertente da alienação. Assim como a heroína tem um efeito separador em relação aos significantes do Outro, a cocaína é utilizada como facilitador da inscrição no redemoinho do Outro contemporâneo.
Sirvo-me da alienação e da separação – dois movimentos, dois batimentos isolados por Lacan e encontrados em “Posição do Inconsciente” e em O Seminário, livro 11 – para ordenar o que me parecem ser as doenças mentais da moda. Há sintomas da moda, e não estamos ampliando excessivamente nosso conceito de sintoma ao admitirmos e conceitualizarmos o fato de que há sintomas da moda. A depressão, por exemplo. Criticamos o conceito de depressão, consideramos que ele é mal formulado, que difere de uma estrutura para outra. Comecemos por não desprezar o significante depressão. É um bom significante, relativamente novo, e dele nos servimos. Nós que nos cansamos em produzir significantes novos, em esperá-los, saudamos um significante novo que funciona! A depressão é um significante formidável. Ele com certeza é clinicamente ambíguo. Mas talvez tenhamos algo melhor a fazer do que brincar de médicos de Molière, vindo com toda nossa erudição, por mais justificada que ela seja, criticar um significante que atualmente diz algo a todos. Eu só o tomo neste nível e nada tenho contra a investigação clínica que pode ser feita a esse respeito. Não é anódino, porém que hoje em dia isso diga algo a todo mundo, que seja uma boa metáfora e, dado o caso, um ponto fixo, um ponto de basta que ordena a queixa do sujeito.
A própria depressão faz dupla. Ela está claramente na vertente da separação, e representa uma identificação com o objeto a como dejeto, como resto. São os fenômenos temporais que mostram bem a separação da cadeia significante e que na depressão podem ser acentuados como o fechamento definitivo do horizonte temporal. A depressão faz dupla com o estresse, este um sintoma da alienação. É o sintoma que afeta o sujeito tragado pelo funcionamento da cadeia significante e por sua aceleração, daí sua aliança com o sintoma da cocaína.
Anorexia e bulimia são outros dois sintomas na moda. Sem dúvida a anorexia está do lado do sujeito barrado, do lado da separação. É a estrutura de qualquer desejo; a rejeição da mãe nutridora e, mais amplamente, a rejeição do Outro é o que nela está em primeiro plano. Já a bulimia, em razão de pôr em primeiro plano a função do objeto, está do lado da alienação. É preciso levar em conta o que Appolinaire salienta e Lacan enfatiza: “Aquele que come nunca está só”. De fato, a bulimia afasta bem menos o sujeito das relações sociais do que a anorexia levada ao extremo.
Portanto, nessa rápida ordenação, eu tenderia a situar a bulimia do lado da alienação e a anorexia do lado da separação. O que percebemos nos dois casos? É fundamentalmente nesses sintomas que aparece sua verdade, sua equivalência ao objeto a. Em outras palavras, o status de objeto a se evidencia tanto na anorexia quanto na bulimia.
![]()
Tomei como referência, por exemplo, a anorexia que está na moda, a dos manequins como modelo físico. O manequim anoréxico é a evidência do desejo, a evidência de que nada pode satisfazer e preencher. Há uma afinidade entre o manequim e a anorexia: nada de saciedade, pois a saciedade é o gozo. Nesse sentido, a anorexia é a evidência do desejo e, por isso mesmo, conduz a uma falicização do corpo que está fundamentalmente ligada à magreza. Em “A direção do tratamento”, Lacan o evoca ao abordar o sonho da Bela Açougueira, que se conclui pela análise do sujeito identificado à fatia de salmão: “ser o falo, nem que seja um falo meio magrelo”. Há uma afinidade entre a feminidade falicizada e a magreza, assim como há entre a primeira e a pobreza. Não o considero como clínica definitiva e ne varietur. Tento apenas animar um pouco a paisagem. Não nos detivemos apenas no sintoma obsessivo bem situado, enquadrado, que afeta o Homem dos ratos, tampouco apenas no sintoma histérico. Hoje fazemos uso do termo sintoma de um modo mais amplo e diversificado.
Uma economia sintomal
Desenvolverei um pouco mais o conceito de sintoma. Lerei algumas frases escritas para a segunda reunião regional da Escola do Campo Freudiano de Caracas e as desenvolverei em seguida.
“No sintoma, há o que muda e o que não muda. O que não muda faz do sintoma um rebento da pulsão. De fato, não há pulsões novas. Em contrapartida, há novos sintomas, os que se renovam. É o envelope formal do núcleo, Kern, de gozo (o objeto a). […]
O Outro cujo sintoma é mensagem inclui o campo da cultura. É isto o que faz a historicidade do sintoma. O sintoma depende de quem escuta e de quem fala.
Vejam o Shabbath magistralmente decriptado por Karl Grinburg. Vejam a epidemia contemporânea das personalidades múltiplas nos Estados Unidos, estudada por Yan Hacking e mencionada por Éric Laurent.
Há sintomas da moda e há sintomas que saem de moda.
Há países exportadores de sintomas. Hoje em dia, são os Estados Unidos. O sintoma soviético desapareceu. Há países que exportam meios de satisfazer os sintomas dos outros, por exemplo, a Colômbia.
Em suma, há toda uma economia sintomal ainda não conceituada. Isto diz respeito à clínica, pois esta é não somente da Coisa, mas também do Outro”.
Nesses brevíssimos comentários, eu opus uma parte constante do sintoma e uma parte variável. A primeira é o apego pulsional do sintoma; a segunda, sua inscrição no campo do Outro. No que concerne ao sintoma, considero que devemos nos orientar sobre esta disjunção e ao mesmo tempo trabalhá-la. Qual é essa disjunção? É a disjunção entre as pulsões, de um lado, e o Outro sexual, de outro.
Ao postular a existência da pulsão genital, Freud negava tal disjunção, ou seja, ele afirmava uma pulsão que comporta nela própria a relação com o Outro sexual, que se satisfaz na relação sexual com o Outro, portanto uma comunicação entre o registro das pulsões e o registro do Outro sexual. Para Freud, aliás, isso às vezes expressava uma continuidade. A princípio, apaixona-se pelo seio da mãe e em seguida é a mãe quem se ama. Em outras palavras, há aí uma espécie de continuidade pulsional, o que permite a Freud, em certos parágrafos, apressar-se para nos mostrar o desenvolvimento sexual.
Lacan intervém neste ponto ao formular: “Não há pulsão genital”. A pulsão genital é uma ficção freudiana – como são as pulsões em geral – que não funciona, não corresponde. Pois bem, aqui se impõe o ponto de vista segundo o qual há disjunção entre pulsão e Outro. Essa disjunção evidencia tanto o que há de auto-erótico na pulsão como o status auto-erótico da mesma, razão pela qual as pulsões afetam o corpo próprio e se satisfazem no corpo próprio. Em outras palavras, a satisfação da pulsão é a satisfação do corpo próprio, o nosso próprio materialismo. O lugar desse gozo é o corpo do Um.
Esse fato torna sempre problemático o status do gozo do Outro e do gozo do corpo do Outro. Falar do gozo do corpo do Outro aparentemente é uma metáfora em relação ao que é do real, a saber, o gozo do corpo do Um. Sempre é possível acrescentar: o corpo do Um é de fato marcado pelo Outro, ele é significantizado etc. Do ponto de vista do gozo, o lugar próprio do gozo é todavia o corpo do Outro. Quando se é verdadeiramente gozado pelo corpo do Outro, há para isso um nome clínico preciso.
Esse ponto de vista tem um embasamento muito sólido. Por exemplo, isso é o que fundamenta Lacan ao lembrar que o sexo não basta para constituir parceiros. Se tomamos o gozo fálico como gozo do órgão, podemos até dizer que trata-se de um gozo que não é verdadeiramente do corpo do Um, que está fora do corpo, que é suplementar etc. Isso não impede que seu lugar não seja o corpo do Outro. Há uma dimensão do gozo fálico que está amarrado ao corpo do Um. Mesmo quando Lacan fala do gozo feminino, que não é aquele do órgão em que a alteridade está presente, ocorre-lhe formular que no gozo, mesmo o gozo sexual, a mulher é parceira de sua solidão, e que o homem não chega a alcançá-la.
Surge nas fórmulas o cada-um-por-si pulsional e a horrível solidão do gozo, que é particularmente evidenciada na dimensão autística do sintoma. Há algo do gozo que se afasta do campo do Outro. Aliás, é este o fundamento de todo cinismo.
O sintoma aparelha o mais-de-gozar
O que acontece do lado do campo do Outro? É nele que se organiza, disjunta, a relação com o Outro sexual, organização que depende da cultura, de certas invenções da civilização. Aqui a monogamia, assentada no adultério, lá a poligamia, assentada na força d’alma etc. As diversas invenções da civilização conhecem sucessos ou decadências, mas sempre constituem cenários da relação sexual disponíveis, tal como semblantes, que não substituem o real que falha, o da relação sexual no sentido de Lacan, mas que simulam essa relação. Elas não substituem o real, mas simulam o real, o que de alguma forma qualifica nossa espécie.
A disjunção entre as pulsões e o Outro é a não-relação sexual como tal. Isso afirma que a pulsão é programada, enquanto a relação sexual não o é. De outro modo, essa disjunção é coerente com o fato de essa espécie falar, isto é, a linguagem se estabelece nessa própria hiância. Isso explica por que a língua que falamos é instável, está sempre em evolução e é tecida de mal-entendidos; ela nunca se adere ao fato sexual, jamais se adere ao fato da não-relação sexual. Certamente esta é a diferença com as bactérias que se comunicam de maneira impecável, mas que mantêm a sua comunicação no nível do sinal, da informação.
Ora, é por isso que o homem neuronal nos fascina, o homem-bactéria, o homem considerado como uma colônia de bactérias em que as diferentes partes enviam umas às outras sinais, informações,. Isso funciona muito bem, entende-se. Assim, o essencial no homem neuronal é que ele seja considerado sozinho, sozinho como bactéria múltipla.
Será que o homem pulsional é autístico? Até onde podemos levar a perspectiva que adoto para o autismo do sintoma e o auto-erotismo da pulsão? É neste ponto que devemos constatar como isso se engancha no Outro. Mesmo que não haja pulsão genital, devemos supor um gozo que não é auto-erótico uma vez que nele incide o que acontece no campo do Outro. Não podemos nos contentar com a disjunção total porque o que acontece no campo do Outro incide sobre nossas convicções de gozo pulsional. Dito de outro modo, não podemos contentar-nos com um esquema de pura disjunção entre os dois campos; é necessária uma interseção.
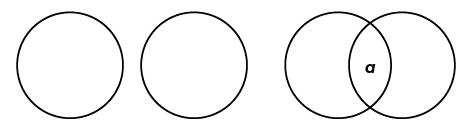
Essa é a interseção descrita por Lacan ao situar o objeto a nessa área. Quando falamos do desejo, da pulsão, nós o fazemos enganchando-os ao objeto perdido, ou seja, não podemos usar os conceitos sem, de uma forma ou de outra, fazer deslizar o objeto perdido. O objeto perdido deve ser buscado no Outro. Eis a dupla face do objeto a, seu caráter janusiano[3]. O objeto a é ao mesmo tempo o que a pulsão necessita em sua condição auto-erótica e também o que se deve buscar no Outro.
Se consideramos a criança pequena começando a falar, de fato são as palavras do Outro que ela capta e distorce à sua maneira; em seguida, lhe será dito que tal coisa não se diz, que tal coisa não se faz, advindo então a regularidade. Para explicar o desenvolvimento neuronal, as neurociências são obrigadas a estabelecer uma função para o olhar do Outro, pois não é a mesma coisa receber a linguagem de uma máquina ou de um ser humano que olha. É preciso que haja um certo “fazer-se ver” do sujeito para que isso funcione.
O que isso quer dizer? Que há uma parte do gozo do Um, o gozo autístico, que está agarrado no Outro e é capturado pela língua e pela cultura, tornando-se em razão disso manipulável. Por exemplo, pela publicidade, que de fato é uma arte de fazer desejar. Hoje em dia propõe-se o consumo como saída do impasse, ou mesmo um certo número de engrenagens para fazer gozar, modos-de-gozar que podem ser francamente bizarros, mas nem por isso menos sociais.
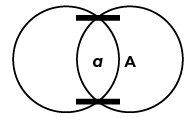
Do lado do Outro, há como mandíbulas que captam uma parte do gozo autístico; é a significação da castração. A verdade da castração é que precisamos passar pelo Outro para gozar e deixar de gozar com o Outro.
É aqui que o Outro lhes indica os modos de formar um par. Por exemplo, o casamento monogâmico; amanhã, quem sabe, ele indicará que talvez seja possível estender o conceito de casamento até o casamento homossexual, o que apenas o revelará em seu semblante, como uma montagem de semblantes. Podemos dizer que isso será bizarro, porém não há nada mais bizarro do que a norma. O espírito das Luzes foi precisamente o de aperceber-se do semblante da norma, e de que bizarra era a norma da sua própria cultura.
O que é o objeto a? É a parte do gozo, o mais-de-gozar que está enganchado nos artifícios sociais, portanto na língua. São artifícios por vezes muito resistentes, mas que também podem conhecer o desgaste. Quando o semblante social não basta, quando os sintomas como modos de gozar oferecidos pela cultura não bastam, então, em seus interstícios, há lugar para os sintomas individuais. Estes, porém, não têm uma essência diferente da essência dos sintomas sociais. Em ambos os casos, os sintomas são aparelhos para envolver e situar o mais-de-gozar, isto é, o sintoma é o que aparelha o mais-de-gozar.
Uma pulsão sempre ativa
Gostaria agora de esclarecer o que me parece não ter sido visto até hoje na fórmula da pulsão proposta por Lacan a partir do “fazer-se”. Ele decifrou a pulsão em seu O Seminário, livro 11 em termos de “fazer-se ver” para a pulsão escópica, “fazer-se ouvir”, “fazer-se sugar ou comer” etc. A que responde essa fórmula por vezes repetida, mas não explicada e que, aliás, não foi bastante desenvolvida por Lacan?
Tal como descritas por Freud, as pulsões respondem a uma lógica ou a uma gramática: atividade/passividade, ver/ser visto, espancar/ser espancado. Freud situa, ordena, classifica as pulsões conforme uma lógica de tipo a–a’, simétrico, em espelho. Ele as estruturou a partir de uma relação de inversão escópica. Em outras palavras, foi uma gramática em espelho que o levou a pensar que sadismo e masoquismo, assim como voyeurismo e exibicionismo, eram simétricos e inversos.
Lacan procurou corrigi-lo para mostrar que o campo pulsional responde a uma lógica inteiramente diferente da lógica do espelho. Em vez da inversão em espelho, ele postulou o movimento circular da pulsão. Desenhado por Lacan em O Seminário, livro 11, O movimento circular da pulsão responde à noção de que o corpo próprio está no início e no fim do circuito pulsional. As zonas erógenas do corpo próprio constituem a fonte da pulsão, sendo o corpo próprio o lugar onde se consuma a satisfação, lugar do gozo fundamental, auto-erótico da pulsão.
O que, porém, muda com o “fazer-se” introduzido por Lacan, e com o circuito propriamente circular? A pulsão é apresentada como sendo sempre ativa e, contrariamente a Freud, sua forma passiva é ilusória. Eis aí o verdadeiro valor do “fazer-se”. Fazer-se espancar quer dizer que a verdadeira atividade é a minha, e que eu instrumentalizo o espancar do outro. Tal é a posição do masoquismo fundamental. Dito de outro modo, Lacan enfatiza que a fase passiva da pulsão de fato é sempre a continuação de sua fase ativa: “Recebo golpes porque eu quero”, ou como formula Clausewitz, “a passividade é a continuação da atividade por outros meios”.
Na dissimetria da pulsão operada por Lacan, o decisivo é o fato de que o Outro em questão não é meu duplo, mas sim o Outro como tal. Parece-me que isso é o que há de inacreditável no que Lacan diz a esse respeito: o sujeito alcança a dimensão do Outro no movimento circular da pulsão.
Não sei se vocês captam a grandiosidade da coisa, pois trata-se verdadeiramente de estabelecer, fundar o laço, a interseção entre o campo pulsional e o campo do Outro. Portanto, a contribuição essencial de O Seminário, livro 11 é mostrar que não é no nível do espelho que se alcança o Outro, mas sim no próprio nível da pulsão, ainda que não haja pulsão genital.
Lacan fala da pulsão escópica na terceira parte do capítulo XV desse Seminário, para estendê-la às outras pulsões. Assim considerada, a pulsão é um movimento de apelo a algo que está no Outro, o que Lacan chamou de objeto a. Deu-lhe tal nome por ter reduzido a libido à função de objeto perdido. A pulsão busca algo no Outro e o reconduz ao campo do sujeito ou, ao menos, ao campo que, no final desse percurso, torna-se do sujeito. A pulsão busca o objeto no Outro porque este objeto dele foi separado.
Lacan o demonstra a partir do seio que não pertence ao Outro materno como tal. É o seio do desmame que pertencia ao corpo próprio do bebê que será retomado como seu bem. Para Lacan, o seio ou as fezes não constituem o objeto a. São apenas seus representantes. Não se deve acreditar que, quando se põe as mãos na merda, se está de fato pondo as mãos na própria matéria do objeto a. Absolutamente. A merda também é um semblante. Isso significa dizer que a satisfação de que se trata está no fechamento da pulsão.
Qual é o exemplo de pulsão oral dado por Freud e enfatizado por Lacan? Não é a boca que baba, mas a boca que beija a si própria. É sobretudo a contração muscular da boca, uma auto-sucção. Contudo, para realizar o beijar-se, é preciso que a boca passe por um objeto cuja natureza seja indiferente. Eis por que há na pulsão oral tanto o fumar quanto o comer. A pulsão oral não é o comestível, mas sim o objeto que permite à boca gozar de si mesma, ou seja, para esse auto-gozo, é preciso um hetero-objeto. Dito de outro modo, o objeto oral é apenas o meio de se obter o efeito de auto-sucção, o paradoxo fundamental da pulsão. Se o reconstituo exatamente é por natureza um circuito auto-erótico que só se fecha através do objeto e do Outro. Vale dizer, dependendo da face, auto-erotismo ou heteroerotismo.
Nesse sentido, o que é o objeto propriamente dito? O objeto propriamente dito, o objeto a, é um oco, um vazio, somente o necessário para que o anel se feche. Eis por que Lacan recorreu à topologia para apreender o valor estruturante do objeto. O objeto a não é uma substância, mas sim um vazio topológico, podendo ser representado, encarnado, por substâncias e por objetos. Quando materializado, porém, ele não passa de semblante em relação ao que é o objeto a propriamente dito.
Em outras palavras, o objeto real não é a merda. E quando Lacan diz que “o analista é semblante de objeto”, pois bem, nesse sentido a merda também é semblante de objeto a. O analista representa o objeto a e, a esse título, é um semblante tal como toda representação material do objeto a. O bebê quer o seio, dão-lhe a chupeta. Dá no mesmo. Mais tarde, ele preferirá a chupeta. No nível da pulsão ao menos, no nível de que se trata, o nível da satisfação auto-erótica da pulsão, o seio e a chupeta são da mesma ordem.
Portanto, para tornar mais clara a compreensão, distingo o real do objeto a, que é o vazio topológico, do semblante do objeto a, os equivalentes, as materializações dessa função topológica que se apresentam. Aliás, pode-se dizer que todas as pulsões são mitos e que somente o gozo neuronal é real. Neste sentido, a heroína ou a sublimação são apenas meios do gozo neuronal. Quando se leva a sério o real, todos são semblantes em relação ao real. Todavia, mesmo no nível neuronal, isso faz diferença conforme seja dito por uma máquina ou, como se expressam os americanos, por um ser humano atento.
Resumo. Nessa perspectiva, é a própria pulsão que leva ao campo do Outro, porque é lá que ela encontra os semblantes necessários à manutenção de seu auto-erotismo. O campo do Outro se estende ao campo da cultura, como espaço onde se inventam os semblantes, os modos-de-gozar, enfim, os modos de satisfazer a pulsão através dos semblantes. Como indiquei, esses modos são móveis, e isto introduz um certo relativismo. No nível de um sujeito, eles são marcados por uma certa inércia. Eis por que admitimos inscrever o sintoma de um sujeito no registro do real. Social ou “individual”, o sintoma é um recurso para saber o que fazer com o outro sexo, já que não há fórmula programada da relação entre os sexos.
A pulsão, fundamento da relação com o outro
Enfatizei que o sintoma é constituído de duas partes: seu núcleo de gozo, que dizemos pulsional e que mergulha suas raízes no corpo próprio, e seu envelope formal, por meio do qual ele depende do campo do Outro, que abarca a dimensão dita de civilização. Logo corrigi este esboço uma vez que a pulsão só conclui seu arco de gozo passando pelo Outro, já que é no Outro que reside o que aproximamos com a expressão de objeto perdido. É preciso que a pulsão gire em torno desse objeto para fechar seu percurso, a castração sendo a encenação dessa necessidade em que o objeto perdido aparece como o objeto que pode ser capturado.
Pensemos, por exemplo, na corrida de bigas do circo romano e na baliza que era necessário atingir para poder retornar. O que materializa essa baliza tem pouca importância. Indiferença do objeto da pulsão! Para que esse percurso da pulsão, de certa forma auto-erótico, se realize, é preciso a intervenção de um objeto que está no campo do Outro. Dito de outra forma, não há o Um disjunto do Outro.
Esse esquema implica uma interseção. Conhecemos, de forma evidente, essa interseção no nível do significante em que o Um é o sujeito, e em que aprendemos a repetir, com Lacan, que o significante é aquele do Outro, reconhecido como o lugar dos códigos ou o tesouro dos significantes. É a interseção significante, a nós enfaticamente apresentada no famoso grafo de Lacan , o que ficou gravado em nossas mentes.
Aliás, o Outro em questão não é apenas o do significante, mas também o do significado. Dado que este esquema indica que o Outro decide quanto à verdade da mensagem, por sua pontuação, ele também decide quanto ao significado. Eis por que tal interseção no nível do significante apresentou-se inicialmente no ensino de Lacan como comunicação.
A função clínica aqui evidenciada é a que Lacan chamou de “o desejo”, como vetor que parte do Outro. A fórmula do desejo é uma encarnação clínica da interseção entre o Um e o Outro. A segunda interseção, a libidinal, no nível do gozo, escapa mais ainda.
Anunciamos a interseção significante a partir do esquema lacaniano da comunicação, porém a interseção no nível do gozo é mais secreta ainda. O próprio Lacan opôs desejo e gozo, afirmando: “o desejo é do Outro, mas o gozo é da Coisa”, como se de fato o gozo permanecesse do lado do Um e se baseasse na evidência de que o lugar do gozo é o corpo próprio.
Centro o foco sobre a interseção do Um e do Outro no nível do gozo. Em que sentido o gozo é também do Outro?
Segundo Freud, a libido circula, presa no que podemos chamar de uma comunicação. A libido, essa invenção conceitual de Freud, transvasa. Ela tem um aparelho freudiano, ela é aparelhada com vasos comunicantes. Particularmente, a libido freudiana é transfundida de seu lugar próprio, que seria o narcisismo individual, rumo aos objetos do mundo que se encontram então investidos: objetos imaginários… Isso faz parte de nosso vocabulário e retórica mais natural e próxima da experiência: investimento de tal objeto, desinvestimento, há aí toda uma rede de comunicação libidinal.
O fenômeno de enamoramento descrito por Freud é prenhe de conseqüências, isto é, o momento em que se constitui o casal libidinal, ao menos do lado daquele que se apaixona. O “apaixonar-se” evidencia o laço estabelecido com o Outro. Ainda que ele esteja presente apenas de um lado, de algum modo ele constitui o nascimento do casal. Botticelli pintou o nascimento de Vênus saindo sozinha das ondas. Freud, por sua vez, pintou o espectador que se enamora no estado amoroso. Ele traduziu o surgimento do amor de um por outro em termos de empobrecimento imediato da libido narcísica. A libido se transfunde rumo ao objeto, e o sujeito sente-se como um pobre rapaz. Aliás, esta parece ser a posição do próprio Freud maravilhado por sua Martha.
É de algum modo a fórmula nativa do casal do ponto de vista da libido, e do ponto de vista do amante, que logo, logo se vê marcado com um menos – ele se ama menos – e do amado, que, ao contrário, se vê marcado por um mais.
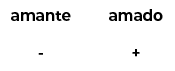
Lacan desenvolveu essa fórmula como dialética do desejo. A posição desejante é fundamentalmente aquela própria à mulher, já que ela é marcada com o menos, que ela não tem, enquanto, para surpresa geral, é o homem o desejável. Nessa perspectiva, a mulher como tal é a pobre. Do mesmo modo, isso relaciona a posição passiva ao masculino, uma vez que aqui a posição feminina é ativa. Ela busca quem tem, e daí, como indicamos, a afinidade entre feminilidade e pobreza.
Já pude enfatizar a referência de Lacan ao livro de Léon Bloy La femme pauvre. A posição de ser pobre fundamentalmente é a posição do escravo, que aliás tem sido atribuída com freqüência, no transcurso da história, à mulher.
São os pobres que ao mesmo tempo amam e trabalham, não os ricos. Os ideais de amor universal são encampados sobretudo pelos pobres, não pelos ricos. Lacan não só enfatizou a particular dificuldade de amar do rico, como também, em outros momentos, a dificuldade de os ricos se analisarem, visto que, para fazê-lo, entra em jogo a famosa capacidade de amar.
Há um certo número de conseqüências que não desenvolverei detalhadamente aqui. Por exemplo, o parentesco entre a feminilidade e a anorexia, convidando a situar a bulimia como forma derivada da anorexia. Em segundo lugar, a profunda afinidade entre a feminilidade e a propriedade. É precisamente o menos que alimenta na mulher a vocação de cofre-forte, conforme a figuração do continente, freqüentemente assinalada na experiência analítica. Lacan lembra a posição da burguesa no casal, uma designação familiar, popular, operária, da esposa. É isso o que dá também à mulher rica um caráter especial de devoração, uma vez que nada do ter pode estancar sua pobreza fundamental. Nunca há o bastante, o que revela o impasse do lado do ter.
Poderíamos acrescentar, a título de conseqüência, o problema masculino com a mulher rica, mais rica que ele, que por vezes leva ao protesto viril, para retomarmos o termo de Adler, ou ainda à aceitação de sua posição de desejável, e eventualmente, no homem, ao consentimento de ser fetiche da mulher mais rica.
Outra conseqüência é conforme o axioma de Proudhon: “a propriedade é o roubo”. Surge de imediato uma grande figura feminina: a ladra, a ladra com plenos direitos, pois o menos que marca sua posição dá direito ao roubo. A clínica parece indicar que a cleptomania é uma aflição essencialmente feminina. Esta conseqüência certamente concerne à vontade da mulher de ser amada, isto é, de obter uma conversão de sua falta fundamental. Com efeito, amar uma mulher consiste em redimir sua falta, resgatar sua dívida.
Compreendemos a partir disso que, para o homem, amar o outro no casal sempre implica uma fase agressiva, precisamente porque isso o empobrece, dado que não se pode amar sem o menos que Freud tanto valorizou.
Há uma solução narcísica indicada por Freud: amar a si-mesmo no outro, sendo a solução anaclítica a de fazer funcionar o outro que tem, desde que ele dê. O sujeito se apresenta então como o amado. Em determinado momento, Lacan favoreceu a solução narcísica, mais aberta do que a solução anaclítica, esta a de ser amado, desembocando não no trabalho, mas sim no amor.
Talvez possamos corrigir certas indicações de Lacan por outras posteriores. Se examinamos o amor em sua face de pulsão, o “ser amado” pode se revelar em seu valor de “fazer-se amar”. E para fazer-se amar, é preciso eventualmente se esforçar. Se “ser amado” aparentemente é uma posição passiva, “fazer-se amar” revela a atividade subjacente a essa posição. Nada impede que essa fórmula indique que a posição desejante é, em sua essência, feminina, e é sob a condição de alcançá-la, aceitá-la, de assumir algo da feminidade, que o próprio homem é desejante, aceitando dessa forma algo da castração. O que chamamos de sabedoria através dos séculos é algo essencialmente masculino, a disciplina dos sábios sempre consistiu em dizer: “Escutem, rapazes, não se deve desejar demais”, E mesmo: “Se forem realmente perfeitos, não desejem absolutamente nada”. A Sabedoria está em recusar a posição desejante, exatamente como feminina. Aliás, são estes os livros que as mulheres particularmente não apreciam.
Tal ponto de vista freudiano comporta que inicialmente a libido é narcísica. O ponto de partida de Freud é o gozo do Um, mesmo que isso resulte em transvasamentos. Para Freud, a libido apenas secundariamente se transvasa rumo ao gozo do Outro.
Lacan sempre criticou essa posição freudiana dizendo que, quando consideramos que o objeto está incluído primordialmente na esfera narcísica, tem-se uma mônada primitiva do gozo, expressão que figura em O Seminário, livro 4: a relação de objeto. A mônada é uma unidade fechada, separada do Outro. Se partimos de uma mônada de gozo, uma mônada de Eros, somos obrigados a introduzir Tanatos para dar conta de que podemos amar outra coisa que não nós próprios. Nesta perspectiva, a escolha de objeto está sempre ligada à pulsão de morte. É o tema: “amar é morrer um pouco”. Conhecemos bem as afinidades do amor e da morte no imaginário. Já relembrei a noção da interseção libidinal fundamental, posição contrária à noção de mônada primitiva do gozo.
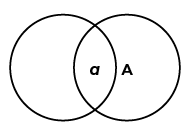
A noção de interseção libidinal exprime que, no nível radical, o campo do Outro se reduz ao objeto. No lugar da mônada primitiva do gozo, há sem dúvida uma relação com o Outro, reduzida porém a um objeto necessário para que a pulsão faça seu circuito. Essa é uma posição em que o Outro não existe, mas o objeto a consiste. Essa perspectiva foi anunciada por Lacan em seu O Seminário, livro 16: de um Outro ao outro, o Outro sendo considerado aqui como um Outro, porque ali é variável, enquanto o artigo definido é atribuído ao objeto. Esse parceiro, o objeto a, sempre é para vocês o (le). Há sempre um deles.
Que parceiro revestirá esse objeto? Aqui é um outro, ou ainda outro. Isso não merece a mesma singularidade que o objeto. Dito de outro modo, o que completa nosso Outro que não existe é exatamente o fato de que o Outro consiste quando está em estado de objeto. O que consiste propriamente falando é o objeto pulsional, mas em sua condição de oco, vazio, dobra ou borda.
A pulsão, o gozo, o Outro reduzido à consistência do objeto a como consistência lógico-topológica, tal é o fundamento da relação com o Outro.
O parceiro-sintoma
Já afirmei que o sexo não é exitoso em tornar os seres humanos, os parlêtres, parceiros. Desenvolverei que apenas o sintoma é bem-sucedido quanto a isso. O verdadeiro fundamento do casal é o sintoma. Se consideramos o casamento como um contrato legal que liga as vontades, abordarei o casal como, se assim posso dizê-lo, um contrato ilegal de sintomas.
Em que um e outro estão de acordo, no sentido mesmo da harmonia? A experiência analítica mostra que é o sintoma de um que entra em consonância com o sintoma do outro. A expressão “parceiro-sintoma” não era usual até este momento. Convém então fundá-la.
Indo direto ao assunto, lembrarei o que Lacan desenvolveu a respeito do que podemos chamar de o parceiro-falo, a redução do parceiro ao status fálico.
O parceiro-falo
É nessa perspectiva que se insere “A significação do falo” (1958) e a releitura dos textos de Freud sobre a vida amorosa.
Lacan distingue e articula três modalidades de casal, três casais, se excluímos da série o casal da necessidade. Este é composto por aquele que experimenta a necessidade, aquele que está privado, e por aquele que tem como responder a isso. Eis o grau zero do casal, fundado na dependência da necessidade. Digo grau zero porque observamos esse tipo de casal já no reino animal. Eventualmente, tentamos estender este modelo ao casal humano. Foi a tentativa de Bowlby, por exemplo, com seu conceito de apego.
Eis então os três casais propriamente humanos. Em primeiro lugar, o casal da demanda, que decalca o primeiro e o transpõe para a ordem simbólica, dado ser este o comutador lacaniano que permite passar de um nível para outro, pois a necessidade é articulada na demanda. O casal da demanda liga aquele que demanda àquele que responde, resposta que consiste em dar o que foi demandado. Esse casal já é significante, pois de fato supõe que haja emissão de um significante dotado de significado ou que desperte uma significação, e nele o dom tem valor de resposta. Ao mesmo tempo, se seguimos essa decomposição conceitual do casal, o que aí se veicula, o que amarra um ao outro permanece um objeto material.
Um degrau suplementar e passamos para o nível do casal do amor, em que também há aquele que demanda e aquele que responde, salvo que este que demanda o faz sem demandar nada além da resposta. Nesse nível esvaece a materialidade do objeto que circulava no casal precedente, ou seja, não há demanda do objeto e resposta pelo dom do objeto, mas puramente demanda da resposta como tal, e aqui o dom nada mais é que o dom da resposta, um dom significante. A esse respeito o casal do amor é, de parte a parte, um casal significante.
À luz das articulações anteriores de Lacan, é no nível do casal do amor que se deveria situar o desejo de reconhecimento, com sua satisfação exclusivamente significante. O desejo de reconhecimento se consuma, se satisfaz, como o nome indica, por um reconhecimento significante vindo do Outro, por um dom significante, o dom de nenhum ter material.
Desse fato decorre a definição de Lacan do amor como “dar o que não se tem”, o que supõe, paradoxalmente, que a demanda de amor de um dirige-se ao “não ter” do outro. A demanda “me ame” não se dirige a nada do que o outro poderia ter. Ela se dirige ao outro em seu despojamento e requer do outro a assunção deste despojamento.
O terceiro casal, o casal do desejo, só se forma, só se constitui com a condição de que cada um seja para o outro a causa do desejo. Uma tensão aqui se introduz, uma oposição, uma dialética entre o casal do amor e o do desejo, exatamente aquela desenvolvida por Lacan. Com efeito, as duas modalidades do casal introduzem uma dupla definição do parceiro, paradoxal e até mesmo inconsistente. Há o parceiro a quem se dirige a demanda de amor, a quem se endereça o “me ame”. No que se refere a esse status, este é o parceiro desprovido, o que não tem. A demanda de amor se endereça, no parceiro, àquilo que lhe falta. Esse status do parceiro distingue-se do que é requerido ao parceiro que causa o desejo, o detentor dessa causa. Opõem-se assim o duplo status do parceiro desprovido e do parceiro provido.
Tal paradoxo beneficia o homem. O homem, o macho, é dotado, se assim posso dizer, de um objeto-eclipse[4]. Conforme o momento, ele é provido ou desprovido, satisfazendo de certa forma a esse paradoxo: os dois em um. Daí o grande interesse comumente despertado, na relação de casal, por aquilo que se passa depois, quando ele está desprovido. A questão é saber se ele fica ou vai embora. Sua permanência é uma prova de amor. Há algo além da satisfação fálica que o retém.
Esta é uma grande questão que alvoroçou os teóricos, por exemplo, na ficção de Rousseau, em seu Discurso sobre a desigualdade entre os homens: saber se o homem permanece com a mulher para torná-la companheira – o que já forma o nucleus da ordem social a partir da família – ou se, tendo obtido o que queria, ele se vai. Sou eu que traduzo dessa forma o que diz Rousseau.
A desvantagem da mulher é a de não ter esse maravilhoso órgão-eclipse. Na articulação proposta por Lacan, é isto o que leva um homem a desdobrar sua parceira em a mulher parceira do amor e a mulher parceira do desejo.
A proeza de “A significação do falo” está em cifrar ao mesmo tempo o parceiro do amor e o parceiro do desejo pelo falo, e em definir essencialmente o parceiro do casal como o parceiro-falo. Se ele é o parceiro do amor, é cifrado (-![]() ), uma negação incidindo sobre o significante imaginário do falo. Se é o parceiro do desejo, é cifrado (
), uma negação incidindo sobre o significante imaginário do falo. Se é o parceiro do desejo, é cifrado (![]() ). Do lado masculino, é possível uma oscilação entre (-
). Do lado masculino, é possível uma oscilação entre (-![]() ) e (
) e (![]() ), enquanto do lado feminino, é ou um ou outro, e isto tende a ser um ou outro.
), enquanto do lado feminino, é ou um ou outro, e isto tende a ser um ou outro.
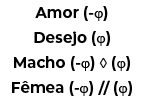
De um lado, uma oscilação, e de outro, uma intimação fálica unilateral. Isso se presta em seguida a todas as aplicações particulares, às variações, aos desvios dessas fórmulas, mas constitui a fórmula fundamental da parceria fálica.
O que torna os sujeitos parceiros
Aqui se inscreve a proporção sexual em sua diferença com a relação sexual. A proporção sexual propriamente dita constitui um laço estabelecido no nível do desejo que supõe, portanto, que o parceiro tenha uma significação fálica positiva. Nesse laço, a significação do falo é o mediador. Há a proporção sexual que se estabelece sob o significante do falo, fazendo de cada parceiro a causa do desejo do Outro. Eles se tornam, nesse nível, parceiros por meio da cópula fálica. A relação sexual, diferentemente da proporção sexual, constitui o laço que se estabeleceria no nível do gozo. É bem isso o que interrogamos, saber o que estabeleceria um laço de parceria no nível do gozo.
O que torna parceiros os sujeitos? Em primeiro lugar, eles se tornam parceiros pela fala, não fosse pelo fato de se dirigirem ao Outro e este lhes responder, reconhecendo-os ou não, identificando-os. O fundamento do casal significante é um “tu és”, “tu és isso”. Em um dado momento, Lacan de fato fazia do significante o fundamento ideal do casal.
Para Freud, os sujeitos se tornam parceiros essencialmente pela identificação com o mesmo. A identificação é o núcleo do casal significante, este par podendo se estender até abranger uma coletividade. Para ele, os sujeitos também se tornam parceiros pela libido, o que Lacan traduziu em um primeiro momento de seu ensino pelo casal imaginário a-a’, com uma libido circulando entre os dois termos. Com ele, tornou-se comum opor o casal significante simbólico ao casal imaginário, este mais duvidoso, mais instável, porque ligado aos avatares da libido.
Podemos acrescentar que os sujeitos tornam-se parceiros pelo desejo, tradução lacaniana da libido, e parceiros precisamente pela mediação do falo. O falo é de algum modo uma instância bifacial, entre fala e libido, já que Lacan faz dele, no auge de sua elaboração a respeito do termo, o significante do gozo. Ligar fala e libido é o que a expressão ‘significante do gozo’ já faz.
Todavia as diferentes formas de parceria, quer sejam elas pela fala, pela libido, ou ainda pelo desejo, não resolvem a questão de saber se os sujeitos tornam-se parceiros pelo gozo. Somos inclinados a pensar que pelo gozo eles se tornam solitários. É o status auto-erótico, até mesmo autístico do gozo.
Mesmo considerando separadamente os sujeitos de cada sexo, a mulher vai alhures, sozinha, enquanto o homem é presa do gozo de um órgão destacado em seu corpo próprio, e que, se o quisermos, lhe faz companhia. O gozo, à diferença da fala, torna solitário.
Há esta esperança que chamamos de castração, esperança de que uma parte de gozo autístico esteja perdido e que se o reencontre no Outro sob a forma de objeto perdido. Em outras palavras, a castração é a esperança de que o gozo torne-se parceiro, porque ela exigiria que se encontrasse o complemento de gozo necessário no Outro.
Para Lacan, o tema do parceiro-falo traduz a face positiva da castração: ela é o sexo tornando os sujeitos parceiros. Sob outro ângulo, isso faz do Outro apenas um meio de gozo, e não é evidente que isso desqualifique ou anule o cada-um-por-si do gozo e sua idiotia.
Em O Seminário, livro 20: mais, ainda, Lacan evoca a masturbação como o gozo do idiota. Digamos que a idiotia do gozo evidentemente não é desqualificada pela ficção consoladora da castração. É bem essa a diferença que se demarca se opomos a construção de Lacan em “A significação do falo” àquela que aparece em “L’Étourdit”. Em “A significação do falo”, temos de haver-nos com o parceiro falicizado, na tentativa de demonstrar em que o falo torna parceiro. Reencontramos tal falo na construção de “L’Étourdit”, mas ela não incide sobre o parceiro, e sim no próprio sujeito, inscrito na função fálica. Nesse nível, longe de incidir sobre o parceiro, de qualificar o parceiro, a função fálica qualifica o próprio sujeito, mostrando-o parceiro da função fálica. Dessa maneira, nas entrelinhas, pode-se ler que, por esse viés, não são parceiros, ou seja, um e o outro não são parceiros pelo viés da função fálica, que, contrariamente, qualifica a relação do próprio sujeito com essa função. E desse modo, o parceiro só aparece em seu status minorado, degradado, o de ser meio de gozo.
Na verdade, o parceiro meio de gozo é o que aparece na fantasia. A teoria da fantasia sustenta que o parceiro essencial é o parceiro fantasístico, este que é escrito por Lacan em sua fórmula da fantasia no lugar do objeto a. O status essencial do parceiro no nível do gozo é ser o objeto a da fantasia.
Certamente quando Lacan forja tal fórmula a partir de “Uma criança é espancada”, de Freud, o pequeno a é um termo imaginário, e sem dúvida ele distingue o invólucro formal da fantasia, ou seja, a imagem e a frase na fantasia, do núcleo de gozo como sendo propriamente o “fazer-se espancar”. Nesse contexto, a fantasia se opõe ao sintoma, primeiro porque a fantasia é gozo agradável enquanto o sintoma é dor. Nesse ponto Lacan insiste no status de mensagem do sintoma, portanto seu status de verdade, ao mesmo tempo que prevê, em seu grafo, uma incidência da fantasia no sintoma.
Sintoma e fantasia, contudo, tão essenciais que devem ser distinguidos, reencontram-se, conjugam-se no final do ensino de Lacan. Em primeiro lugar, porque se tomamos a fantasia em seu status fundamental, não se trata mais de imaginário ou simbólico, mas sim do real do gozo. A fantasia se conjuga desse modo ao sintoma porque ela não é apenas mensagem, mas também gozo.
O que portanto parece fundamental, tanto na fantasia quanto no sintoma, é o núcleo de gozo, do qual ambos são como modalidades, invólucros. O modelo do sintoma de que se trata aqui não é o da histérica, que fascinou Freud por ser decifrável. Trata-se mais propriamente do sintoma obsessivo tal como Freud destacou seu status em “Inibição, sintoma e angústia”, o sintoma obsessivo que o eu adota, tornando-se parte da personalidade, e que, longe de se destacar, torna-se fonte de satisfação agradável, sem discordância.
Aqui estamos no nível em que o sujeito é feliz, tanto na fantasia como no sintoma. É nessa perspectiva que falo do parceiro-sintoma. O parceiro é suscetível, se ele está ligado ao sujeito de modo essencial, de encarnar, propriamente falando, o seu sintoma.
Fundamento sintomático do casal
Talvez seja preciso dar aqui algum exemplo que mostre que o verdadeiro fundamento do casal é sintomático.
Uma mulher é abandonada pelo pai – figura sublime! – no nascimento, e até mesmo antes do nascimento, já que falamos do caso do cara que se escafedeu tão logo deu aquela gozada.
Ela não se torna psicótica em função de uma substituição ocorrida e que lhe permite arranjar-se com o significante e o significado. Alguém ocupa o lugar de pai, mas não a ponto de impedir uma divisão precoce: “Ninguém pagará por mim”, decisão que faz dos males um bem por assumir o desamparo em que foi largada. “Necessidade de ninguém”, eis como ela se sai. Isso a lança em uma certa errância. Ocorre-me a imagem da tartaruga que passeia com a casa nas costas. Ela encontra um homem, se apega a ele, constituem casal e prole.
Qual o homem que ela encontra? Exatamente um que não quer pagar para uma mulher. Evidentemente isso lhe convém, um homem que não quer pagar sua cota à mulher. E, entre todos, é com esse que ela se junta. É um homossexual. Nobody is perfect. Eles se amam, se entendem. Um não pagará pelo outro, eis o lema do casal.
A má sorte faz com que ela entre em análise. Sabe-se – não por acaso – que a análise é de bom grado causa de divórcio. E na análise nasce o desejo de que o Outro pague por ela.
Um sonho retorna: uma butique da infância conduz à associação de que, quando ia comprar alguma coisa embaixo do prédio onde morava, ela dizia: “Papai vai pagar”. Papai era o substituto. E ei-la que se põe a desejar que o homem, o pai de seus filhos, pague sua parte. Ela não quer mais ser tartaruga.
O cara, fiel ao contrato sintomático inicial, não quer largá-los. E ela passa a detestá-lo, sonha em deixá-lo, prepara sua partida. Ele não se mexe. O cofre está fechado. Eis que logicamente ela lhe apresenta contas. E um dia ela lhe apresenta uma conta a mais – de gás e eletricidade. Eis que isso se revela insuportável para ele, pega suas tralhas, vinte anos depois, e pede enraivecido o divórcio, logo após advertir a companhia de gás francesa para não mais lhe cobrar débitos porque ele não os pagaria. Esse divórcio é doloroso para ela, que descobre que não o queria, apesar de cozinhá-lo em banho-maria durante anos. Ao contrário, ela desejava um casal verdadeiro, no seu conceito.
Pode-se dizer que a análise atingiu a base sintomática do casal. E por que não considerar isso como uma travessia da fantasia, da fantasia “necessidade de ninguém”? Constatamos, em todo caso, que essa fantasia passou para a vida. Tendo atravessado a fantasia, divorciada, ela se reencontra na situação em que certamente ele não mais pagará para ela. Nesse momento tão doloroso de ruptura do casal, descobre-se o que era a base do casal, que cada um casara com seu sintoma.
É preciso levar em conta a dissimetria de cada sexo na relação com o Outro. Aqui Lacan nos serve de guia. O que o sujeito homem busca no campo do Outro? Ele busca essencialmente o que é o objeto a, objeto que responde tão bem à estrutura da fantasia. Ele se relaciona apenas com esse pequeno a. Isso pode assumir a forma grosseira que evoquei com “aquela gozada”.
Não é fundamentalmente diferente do lado mulher. Escrevo aqui $. Lacan apõe à ponta da flecha um Φ, resto da elaboração de “A significação do falo”. Ele apõe o Φ, e não o falo imaginário, para indicar que há objetos que podem tomar esse valor. O falo é certamente o mais querido, mas a criança pode adquirir valor fálico. Eventualmente, podemos nos relacionar com o Outro sexo para roubar dele essa criança com valor fálico. Mas não é fundamentalmente diferente no nível em que cada um degrada o Outro. Cada um visa o Outro para dele extrair seu mais-de-gozar. É aí que Lacan acrescenta um elemento do lado mulher: além disso, em seu próprio campo, o sujeito feminino tem relação com o que ele escreve como S(Ⱥ). Tal é a diferença. O sujeito mulher se relaciona com a falta do Outro, e disso decorre um desvario especial.
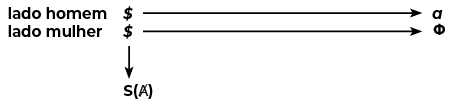
Isso pode ser traduzido em diversas pantomimas. Para começar, a de bancar a louca. Esta é sempre uma possibilidade. Por exemplo, é o sintoma de personalidades múltiplas. Menos sofisticado, o distúrbio da identidade deve ser igualmente inscrito nesse registro, além de todos os distúrbios afetando a presença no mundo até os fenômenos do tipo oniróide, que foram, de longa data, referidos à histeria. Há uma outra pantomima que escrevemos em série: fazer do homem um deus, ou deixá-lo louco. O sujeito feminino dirige-se ao Outro para nele encontrar a consistência, mas oferece ao sujeito masculino a oportunidade de aí encontrar a inconsistência, a que inscreve satisfatoriamente o Ⱥ.
Aliás, é o que o infeliz, de quem evoquei o destino, encontra. O que o deixa enraivecido e motiva o divórcio é ela não mais jogar o jogo. É também desse lado que se inscreve a possibilidade, para o sujeito feminino, de se fazer o Outro do homem, ou seja, se dedicar a ser o seu supereu, em suas duas faces: de sanção, e também de empuxo-ao-trabalho, ou seja, de empuxo-ao-gozo. Freud o assinala quando atribui à mulher o privilégio que ela daria aos interesses eróticos. O sujeito feminino é apropriado para encarnar o imperativo “Goza”, assim como o “Vai, trabalha e traz o suficiente para o feijão”. O imperativo cai como uma luva: “Goza, mas só comigo”, daí a paixão de ser única. O homem também pode se alojar para a mulher nesse lugar de S(Ⱥ). É aí que a dissimetria é mais probatória.
Se seguirmos Lacan, a mulher é sempre objeto a para um homem, motivo pelo qual ela não é mais que parceiro-sintoma. O núcleo de gozo, é esse objeto a, o parceiro sendo aqui o invólucro de a, exatamente como o sintoma o é. O parceiro como pessoa é o invólucro formal do núcleo de gozo, enquanto, para a mulher, se o homem se aloja em S(Ⱥ), não é somente um sintoma circunscrito, porque esse lugar implica o ilimitado. É um lugar não cerceado, um lugar em que não há limite. O homem é então o parceiro-devastação. Dito de outro modo, a devastação comporta o ilimitado do sintoma. Em um determinado sentido, para cada sexo, o parceiro é o parceiro-sintoma, mas para a mulher, em particular, um homem pode ter a função de parceiro-devastação.
Parceiro-devastação
Talvez eu possa dar um exemplo, o de uma jovem mulher que se casa com um homem que ela fisgou. Em algum lugar, Lacan fala do bando de rapazes se empurrando, se dando bordoadas e das meninas que os cercam, até que uma descola um deles do bando, e ele então acena para os amigos: “Até mais, a gente se fala”. Ops… Ela o arrasta.
Ela ultrapassou as reticências do rapaz, suas inibições, sua extrema má vontade. Ele queria permanecer casado com seu pensamento, seus maus pensamentos. Ela forçou um pouco a barra para agarrá-lo, e não outro, embora fosse uma mulher a quem não faltassem pretendentes.
Eis o resultado: ele não deixa passar um dia sem cobrá-la pela constituição desse casal sob a forma de observações depreciativas. Isso é clássico! Freud o assinalou: o homem despreza a mulher por causa da castração feminina, observações depreciativas que chegam à injúria quotidiana, sob formas particularmente cruéis. O ódio da feminilidade se expõe do modo o mais evidente possível.
As pessoas comentam, os amigos dizem: “Larga dele”. Surge a famosa questão: “o que ela viu nele?”, reveladora da dimensão do parceiro-sintoma. A pressão acaba por levá-la a um analista. Em análise, descobre que, finalmente, ela vai muito bem. Prospera. Goza na cama. Após a injúria, transam. Ela engravida. Ela trabalha. E toda a dor concentra-se no parceiro injurioso que aparece sob a forma, assinalada por Lacan, de devastação. Isso a devasta. Ela chega à análise devastada pelos dizeres do parceiro.
O que se descobre em análise? Descobre-se – com a ajuda dessa perspectiva que se abre, quando partimos do princípio, tão salubre, de que o sujeito é feliz inclusive na sua dor – que a palavra de injúria é exatamente o próprio núcleo de seu gozo, que ela tem da injúria gozo da palavra. A injúria, aliás, é a última palavra, esta em que o Sinn engancha a Bedeutung de forma direta.
Ela descobre que precisa ser estigmatizada para ser. O estigma é a cicatriz da chaga, o corpo que porta as cicatrizes. Não se pode escrever o estigma de maneira melhor do que S(Ⱥ). Aliás, era no estigma que eventualmente se reconhecia a marca de Deus.
Se foi esse o homem que ela quis arranjar e ficar com ele, é na exata medida que ele lhe diz injúrias.
Certamente ele a degrada. Por que ela precisa disso? Por que ela só é mulher sob a condição de ser assim designada.
Chegamos ao termo último, ao terminus, que é o pai. A única relação sexual que faz sentido é a incestuosa. Ocorre que o pai nutria um desprezo profundo pela feminidade, um desprezo de origem religiosa. Foi na relação com seu Deus que nele se desenvolvera uma desconfiança, um ódio pela feminidade, do qual a filha não escapou. O casal infernal comemorava o sintoma do pai. O sujeito gozava da estigmatização paterna por meio de seu parceiro.
Vê-se aqui que o Outro da fala está concernido. Com certeza! Concernido pelo gozo, pois aí é essencial que o parceiro fale. Aqui, porém, não é o Outro da verdade que funciona, nem o Outro da boa fé, mas sim o Outro da injúria. O sujeito se encontra ajustado com o Outro pelo que é o sintoma do Outro. Ela satisfaz aí seu próprio sintoma. Se há relação, ela se estabelece aqui no nível sintomático. E, nesse casal, cada um toma parte como sintoma.
Um bom uso do sintoma
A abordagem do sintoma que empreendo por meio de alguns exemplos e de um rápido percurso na obra de Lacan evidentemente se liga à idéia que podemos ter do fim da análise.
Há vários anos conceituamos o fim da análise a partir da travessia da fantasia. A fantasia concebida como véu a levantar, rasgar ou atravessar para atingir o real, na época escrito objeto a. Esse encontro teria o valor de despertar e, certamente, reordenar a posteriori, de forma definitiva, as ocorrências da vida do sujeito, fazendo aparecer seus tormentos anteriores como mais ou menos ilusórios.
Nessa perspectiva, somos conduzidos a opor a suspensão do sintoma, de ordem terapêutica, à travessia da fantasia, que abre um mais-além, permitindo um acesso ao real; o que verdadeiramente se qualifica de passe, com uma mudança de nível. Creio ter revelado a temática em toda sua intensidade, temática que está em Lacan e indiscutivelmente o inspirou.
O tema do sujeito iludido que tem, a partir de uma experiência fundamental, um acesso diferente à verdade, ao real etc., num afeto de despertar é também um tema clássico. O despertar é um termo encontrado nas culturas orientais. Descobre-se que se vive na ilusão, sob o véu de Maya, e que se pode atravessá-lo rumo ao despertar. Na temática da travessia da fantasia, tem-se todas as harmônicas dessa tradição, presente igualmente em Pitágoras, Platão e talvez Spinoza. Porém, do ponto de vista do sintoma, ou sinthoma, como diz Lacan, não se trata de ilusão, nem de despertar para o real ou para a verdade do real. Do ponto de vista do sintoma, o sujeito é feliz. Ele é feliz tanto na dor quanto no prazer; tanto na ilusão quanto na verdade. A pulsão desconhece essas histórias. Quanto ao sujeito, como diz Lacan, “toda sorte lhe é boa” (tout heur lui est bon) para o que o mantém, ou seja, para que ele se repita.
Dito de outro modo, o que não muda é a pulsão. Não há travessia da pulsão, não há mais-além da pulsão. Eu já disse antes que não há travessia da transferência. Certamente, há o estabelecimento de outra relação subjetiva com a pulsão e com a transferência, por exemplo, uma relação limpa do Ideal. Se nos fiarmos à oposição entre o I e o a do gozo, o sujeito no fim da análise se encontrará mais próximo da pulsão. É o que Lacan chama de saldo cínico da análise – cinismo aqui entendido em seu valor de anti-sublimação.
Essa perspectiva não abre para uma travessia, porém, mais modestamente para o que o próprio Lacan chama, na última parte de seu ensino, de “saber haver-se aí (savoir y faire) com o seu sintoma”. Não é se curar. Não é deixá-lo para trás. Ao contrário, é estar enroscado e saber haver-se aí.
O que se desloca entre a temática da travessia da fantasia e a do saber haver-se aí com o sintoma? Em todo caso, isso indica que nesse nível isso não muda. Não despertamos. Conseguimos apenas manejar de outro modo aquilo que não muda.
O saber haver-se aí remete ao que o sujeito é capaz, dado o caso, na ordem imaginária. Sabemos mais ou menos haver-nos com nossa imagem. Trabalhamos nossa imagem. Vestimos nosso corpo. Maquiamo-nos. Arrumamo-nos. Fazemos dietas. Produzimo-nos. Tomamos sol, e antes protegíamo-nos dele. Em suma, cuidamos de nossa imagem.
Pois bem, a questão seria de saber haver-se aí com seu sintoma tendo o mesmo cuidado dispensado à imagem. A perspectiva é aquela de um bom uso do sintoma, e isto é muito diferente da travessia da fantasia.
A travessia da fantasia não deixa de ser uma experiência de verdade. É a noção de que as escamas, em determinado momento, caem dos olhos, e que a existência se reordena a partir de uma visão a posteriori.
O bom uso do sintoma não é uma experiência de verdade, trata-se antes da ordem, se ouso dizer, de ter prazer com seu gozo, estar em sintonia com seu gozo. Muito inquietante, certamente! Esboça-se aqui algo da ordem do sem-escrúpulo. O escrúpulo, no sentido etimológico, é uma pedrinha que incomoda. No sapato, por exemplo. A consciência é da ordem dessa pedrinha, e o bom uso do sintoma deixa de lado a famosa pedrinha.
Neste sentido, o fim da análise não é deixar de ter sintoma – esta seria a perspectiva terapêutica – mas sim, ao contrário, amar o sintoma como se ama a própria imagem, e até mesmo amá-lo em vez de sua imagem.
O saber haver-se aí com seu sintoma
Enfatizei de outro modo o fim de análise. Não o fiz sem hesitação, nem sem prudência.
Aggiornamento de nosso olhar clínico
É preciso reconhecer que o aqui enunciado tem incidências sobre a prática analítica, sobretudo em certa área dessa prática. Não estamos aqui apenas para comentarmos a prática que existe; as ênfases postas, e até mesmo as inovações que se esboçam, têm conseqüências sobre a prática analítica. Isso está na medida para evitar tocar em tal questão, e isso para não dizer tudo.
Após enfatizar o parceiro-sintoma, a relação do sujeito no casal, o casal que ele forma com outro, sou forçado a constatar isso de que me falam sobremaneira. Logicamente já me falavam antes, razão da ênfase ter se imposto. Porém tomar conhecimento, promovê-la, tem como efeito reforçá-la, até o ponto de não se poder desconhecer o lugar que a relação com o parceiro tem na prática e na clínica, na qual essa relação não é um complemento, nem enfeite, aparecendo sobretudo como pivô. Não é exato afirmar que na análise se fala somente de papai e de mamãe, da família de nascimento e do ambiente da infância. É fato que falamos, de modo premente e mesmo proeminente, da relação com o cônjuge ou com a ausência de cônjuge, o que, para o que nos interessa, dá no mesmo. Faz parte do aggiornamento de nosso olhar clínico passar à perspectiva que se impõe em primeiro plano.
Há para isso razões de civilização que exploramos às apalpadelas. É um fato da época em que o Outro não existe. Não existindo o Outro, recuperamo-nos com o parceiro, que, este, existe; de vários modos possíveis nós o fazemos existir.
A ruína do Ideal e a prevalência do objeto mais-de-gozar tendem, no modo de gozo contemporâneo, ao fenômeno abordado de modos distintos por outras perspectivas que não a nossa: a dissolução de comunidades, da família ampliada, das solidariedades profissionais, e até mesmo, para empregar uma gloriosa palavra popular, nos introduz em um fenômeno cada vez mais generalizado de desenraizamento.
Ao mesmo tempo, observamos o surgimento de comunidades recompostas sobre novas bases que o atual regime do Outro impõe, comunidades recompostas por novas famílias, seitas, pertinências associativas, cuja importância na existência é bem maior do que no passado; e um tecido que se trama, de forma nova, de múltiplas solidariedades que, aliás, os estados tentam explorar, e em relação às quais devem situar-se. Os estados são progressivamente postos sob suspeita de nada serem além de uma comunidade como qualquer outra nas mãos do que chamamos, tanto nos Estados Unidos quanto na França, de a classe política, na qual finalmente apenas se vê uma comunidade especial com interesses particulares.
Nessa recomposição comunitária, exigida pelo desenraizamento dominante, sem dúvida o casal é a comunidade fundamental. Ao menos, a forma do casal é subjetivamente essencial.
Essa forma do casal é evidenciada na psicanálise. O analisante vem fazer par, por meio de um diálogo especial, com o analista. Constatamos que o discurso psicanalítico passa pela formação de um casal artificial. A própria expressão casal artificial só valeria verdadeiramente se tivéssemos a noção de um casal natural, que não fosse artificial. É exatamente o que está em questão. Freud chamou o liame desse casal de transferência.
Certamente o casal analítico é dissimétrico. Seus elementos não são equivalentes, ainda que o fato de serem um casal conduza ao querer que a contra-transferência, sob certas perspectivas, responda à transferência. O casal dissimétrico pode ser concebido como libidinal, quando vemos no analista um objeto investido, atraindo para si a libido.
Sabemos que Lacan se recusou a conceber o casal analítico como libidinal. Recusou-se por preconceito, indo buscar a justificativa em Freud de que a libido seria uma função essencialmente narcísica, ilustrada pelo casal especular a-a’. Ele considerou que tal conteúdo da forma casal não convinha ao casal analítico, opondo-lhe o casal intersubjetivo fundamentado na comunicação.

Um casal pivotante na dita função do grande Outro como auditor, mas também, por uma inversão do emissor, em todos os casos, como intérprete, senhor da verdade; e o laço entre os dois é a mensagem, o endereçamento. O Outro é ao mesmo tempo senhor da verdade e senhor de reconhecimento do sujeito. Pois bem, foi a partir daí que Lacan tentou retornar ao casal libidinal.
O casal intersubjetivo, no qual trata-se de comunicar, de dizer a verdade do que o sujeito enuncia, é um casal muito intelectual, um casal apaixonado pela verdade, pela pesquisa da verdade a respeito do que é o sujeito. Ele se diferencia, com efeito, do que é o casal libidinal. Uma vez separados os dois registros, a questão para Lacan se tornou: como explicar o casal libidinal a partir do casal subjetivo? Como explicar o amor e o desejo a partir da comunicação? Ele não deu apenas uma resposta, porém todas elas precisaram da introdução do que chamarei de termos Janus.
Inicialmente, ele respondeu à questão: “como explicar o amor e o desejo a partir do casal intersubjetivo?” em termos significantes. É a doutrina do falo, na qual a libido é reduzida aos fenômenos de significante e significado e o parceiro do amor e do desejo é o falo. O falo é um termo Janus por pertencer, por um lado, ao simbólico e, por outro, ao registro libidinal. É então a resposta em termos de parceiro fálico.
![]()
Mais tarde, às vezes simultaneamente, deu outra resposta ajudado por outro termo Janus, o objeto a, que sem dúvida, não sendo um significante, está mais próximo do registro libidinal que o falo. Mesmo não sendo um significante, Lacan o faz funcionar em sua circulação como um significante, por exemplo, no esquema dos quatro discursos, a letra a não é um significante, mas gira tanto como os significantes, como com a falta de significante. O objeto a é, tal como o falo, um termo Janus.
É o casal fantasístico em que o parceiro do amor e do desejo aparece reduzido essencialmente ao status de objeto. Para Lacan, é a fantasia o que de algum modo constitui o casal fundamental do sujeito, a ponto de, para situar o lugar do analista, ter-lhe sido preciso definir o lugar balizado com o termo objeto a.
A doutrina lacaniana clássica do fim de análise se concentrou nesse casal. Foi essencialmente o que Lacan aparelhou sob a forma do passe. Quando ele conseguiu extrair a função do casal fantasístico, pensou que poderia colocá-lo no aparelho destinado a captar, a organizar o fim de análise.
Tal doutrina tornou-se clássica – sejamos exatos – porque eu o enfatizei. No momento em que Lacan parou de ensinar e em que sua Escola não somente foi dissolvida, mas voou pelos ares, o passe já havia sido descartado pelos alunos mais importantes. A prova disso é que naquele momento nenhum grupo lacaniano, salvo aquele do qual eu fazia parte, retomou às suas custas a prática do passe, considerando que o fracasso se consolidara. Aliás, nem tão enganosamente, pois o ensino de Lacan parecia ter feito o luto do passe, tendo-o, em todo caso, minorado.
É bem verdade que em 1981-2 fiz todo o necessário para restabelecer o passe como doutrina e funcionamento, pensando que a instituição a ser reconstituída sobre novas bases exigia tal aparelho do passe. Dou essas especificações porque, hoje em dia, quando quero dar uma ênfase diferente, vejo retornar a gritaria de alguns: “O passe, o passe!” “Tenham calma”. A história é mais complexa. Lacan propôs o aparelho do passe em 1967. Ensinou até 1980. Deu, à sua trajetória, inflexões que valem a pena seguir.
Para Lacan, antes da doutrina do passe, o fim de análise estava situado, antes de mais nada, em um mais-além do imaginário, e portanto entre dois termos pertencentes ao registro simbólico, dois termos que foram a morte e o falo, sucessivamente.
Foi a contragosto que Lacan situou o fim de análise em relação a esses dois termos do simbólico. Para o primeiro, o fim da análise situara-se em termos de assunção; para o segundo, em termos de desidentificação. Tanto em um caso como em outro, a localização essencial, o lugar do fim da análise, situava-se no simbólico, mais-além do imaginário.
De fato, com a doutrina do passe, esboça-se o lugar do final de análise mais-além do simbólico, em uma atualização do parceiro objeto a. Certa vez Lacan chamou essa relação, não muito mais que uma vez, de a travessia da fantasia, da qual fiz um tipo de schibboleth, leitmotiv, opondo-a à suspensão do sintoma e situando-a na grande oposição existente entre sintoma e fantasia. Tive tamanho êxito que, quando quero retocar, mesmo com a mais leve mão, vira insurreição: “Miller tocou na travessia da fantasia!” Exigem-me a estagnação, sobretudo não querem que eu me mova. Querem o pai morto. Querem o pai, e sobretudo o pai morto.
Observo, contudo, que a travessia da fantasia enfatiza a função da verdade, mesmo quando parece falar do real. Em todo caso , ela acentua um certo mais-além do saber sob forma de verdade e se inscreve em uma dialética do véu e da verdade, sendo a fantasia considerada como esse véu que se trata de erguer ou atravessar para atingir uma certa verdade do real. A travessia da fantasia implica algo como um despertar para o real. Não é falso, mas podemos questionar o que aí se anuncia gloriosamente como descontinuidade, a saber como definitivo, em vista dos resultados.
Os que estão passados estarão acordados? Parecem tão bem instalados com certo conforto, conforto sem escrúpulos. Eis porque apesar de Lacan tê-lo dito apenas uma vez, creio valer a pena deslocar a ênfase.
Esta palavra travessia atravessa a Ponte de Arcole[5]. Há heroísmo na travessia. Houve a travessia do Atlântico por Lindberg, a dos 10 mil, a longa marcha chinesa. A travessia mobiliza uma figuração de heroísmo. Não poderíamos, vendo os resultados, simplesmente acrescentar, pôr ao lado da travessia da fantasia o que Lacan chama, de forma deliciosa, modesta, de o saber haver-se aí com o sintoma, cuja ênfase é inteiramente diferente? Isso não postula em primeiro plano a descontinuidade entre o antes e o depois.
O saber haver-se aí com o sintoma é uma questão de mais ou menos. Nele entra o ambíguo, o vago – fuzzy – tal como chamávamos certas “lógicas ambíguas”. Ele não representa necessariamente o oposto da travessia da fantasia. Poder-se-ia mesmo dizer: após a travessia da fantasia, o saber haver-se aí com o sintoma, se assim quisermos introduzir transições, sem desaprumarmos a população.
Savoir-faire e saber haver-se aí
Eu enfatizaria aqui também a diferença delicada, proposta mas não desenvolvida por Lacan, entre savoir-faire e saber haver-se aí (savoir y faire). Ele o afirma uma vez em um seminário dos últimos anos.
Aqui, necessitamos construi-la, visto que ele não diz o porquê da oposição. Eis o que invento a esse respeito.
O savoir-faire é uma técnica. Há savoir-faire quando conhecemos aquilo de que se trata, quando temos experiência. Aliás, o savoir-faire, sem ser elevado ao nível teórico, se ensina. Nos Estados Unidos, encontramos na livraria manuais de How to? Como fazer com…? O savoir-faire com… tudo. Como dirigir o carro, o casamento, como fazer ginástica, como fazer a cozinha francesa etc. O savoir-faire é uma técnica para a qual há lugar quando se conhece a coisa de que se trata e pode-se definir as regras reproduzíveis, por isso mesmo ensináveis.
Já o saber haver-se aí ocorre quando a coisa em questão escapa, quando conserva sempre algo de imprevisível. Tudo que se pode fazer é lisonjeá-la, permanecendo atento. No savoir-faire, a coisa é domesticada, submissa, enquanto no saber haver-se aí, permanece selvagem, indomável. Eis por que há o universal do lado do savoir-faire. Mas quando há o singular, só há saber haver-se aí. No savoir-faire, conhecemos a coisa. Nada de surpresas! No saber haver-se aí, contudo, admitimos saber encarar a coisa, mas com precaução. Nós a desconhecemos, e sempre estamos esperando o pior.
Retomo aqui um pequeno trecho de Lacan: no saber haver-se aí, não tomamos a coisa em termos de conceito. Essa indicação mínima parece-me congruente com o que desenvolvi: no savoir-faire, domesticamos a coisa por um conceito, enquanto no saber haver-se aí, a coisa permanece exterior a toda captura conceitual possível. Nesse mesmo sentido, não somente não estamos na teoria, como também não estamos verdadeiramente no saber. O saber haver-se aí não é um saber, no sentido de um saber articulado. É um conhecer, no sentido de saber se virar com. É uma noção que, em seu sentido ambíguo e aproximado, parece essencial no último Lacan: saber se virar com.
Aqui estamos no nível do uso, do us – velha palavra francesa que vocês encontram na expressão “les us et coutumes”, nos usos e costumes, que provém diretamente do latim usus e de uti, servir-se de.
Para o último Lacan, o nível do uso é um nível essencial. Nós já o abordamos, ainda que o tenhamos feito por meio da disjunção do significante e do significado. Com efeito, o último ensino de Lacan enfatiza, contrariamente à “Instância da letra”, a não vinculação entre significante e significado, havendo entre eles apenas um depósito, uma cristalização, decorrente do uso que se faz das palavras. A única coisa necessária para haver uma língua é que a palavra tenha um uso, diz ele, cristalizado pela fusão.
Esse uso é o uso feito por um certo número de pessoas que dela se utilizam, “não se sabe muito bem por quê”, diz Lacan. Eles a utilizam e, pouco a pouco, a palavra é determinada pelo uso que dela é feito.
O conceito de uso é essencial no último ensino de Lacan, exatamente por ser distinto do nível do sistema, o nível saussureano do sistema que o inspirara no início. Ao sistema opõe-se o uso, à lei diacrítica do sistema fixado no corte sincrônico que fazemos, para determiná-lo, opõem-se os mais ou menos, as conveniências, os sabichões e os desvios da palavra, do uso da palavra, da prática. Há aqui, com efeito, uma disjunção essencial entre a teoria e a prática. Essa disjunção já se esboça por meio do savoir-faire – o savoir-faire já é uma prática codificada distinta da teoria – e explode no saber haver-se aí. Neste não há teoria, mas sim uma prática que segue seu caminho sozinha, como o gato de Kipling.
Enquanto havia o Outro, tesouro do significantes, não tínhamos necessidade do uso, e podíamos afirmar que nos referíamos ao Outro para saber o que as palavras queriam dizer. E depois, quando as palavras funcionavam e que evidentemente não eram como no dicionário, recorria-se ao mestre da verdade, àquele que dizia, pontuava e escolhia o que aquilo queria dizer.
Mas quando o Outro não existe, quando não elevamos a contingência do dicionário ao status de norma absoluta, quando vocês acreditam mais ou menos no mestre da verdade, sobretudo menos que mais, quando se é mais do tipo “ele diz isso e eu digo outra coisa”, quando o Outro não existe, então só há o uso. O conceito de uso se impõe precisamente a partir do fato de que o Outro não existe. A promoção do uso acontece onde o saber falta, onde o espírito de sistema é impotente, e ali onde a verdade, com seu cortejo de mestres mais ou menos faltantes, não se encontra.
Eis bem por que há uma correlação essencial entre o conceito de uso e o real, em sua definição radical proposta por Lacan: “Talvez seja meu próprio sintoma”. O real em sua definição radical não tem lei, não tem sentido, aparece apenas em pedaços, o que significa dizer totalmente rebelde à própria noção de sistema. Eis por que a relação com o real, até mesmo a boa relação com o real, está marcada, qualificada pelo termo de uso.
A melhor prova disso – Lacan não parou de falar a esse respeito em seu último ensino – é que sempre nos enrolamos (on s’embrouille). Põe-se sempre de lado. O homem se enrola com o real. É por aqui que nos aproximamos da definição mais probatória. Ele se enrola também com o simbólico. É porque o homem se enrola com o simbólico que há algo de real no simbólico. Quando não conseguimos mais dominar o simbólico, e então tateamos, tentamos fazer algo, é exatamente isso o que marca que há real no simbólico.
O homem se enrola também com o imaginário, e é isso a marca de haver real no imaginário, razão pela qual Lacan qualifica a posição nativa do homem como sendo a de debilidade mental. Isso é coerente com o conjunto de termos: o uso, o real, o enrolar-se, e o status de debilidade mental, que tem a ver com o que o sujeito de saída tem de fundamentalmente desarmonioso.
Daí a questão ser a de se desenrolar (débrouiller), conseguir se livrar, porém aqui no espírito mais empírico que sistemático. É aí que Lacan se refere ao bem-dizer. O bem-dizer não é a demonstração. O bem-dizer é o contrário do matema, ele quer dizer que o sujeito consegue finalmente se desenrolar do real com o significante. Nada além que se desenrolar, a ponto de Lacan, numa definição estrondosa, ter proposto que o real se encontra nas enrolações da verdade.
É disso que se trata, de rolo, de desenrolações do tipo Bibi Fricotin, arrolamentos, imbroglios, do modo com que caímos na rede (emmêler) que enredamos (mêler). O objeto que faz sentir que o essencial da condição humana é a enrolação é o nó, o objeto que Lacan pôs no quadro negro durante anos.
A referência de Lacan era a ciência, isto é, de modo algum o bem-dizer, mas sim a demonstração, a redução do real pelo significante. Em seguida, durante o seu último ensino, foi a arte, à diferença da ciência, a arte de saber haver-se aí, até mesmo savoir-faire, contudo mais-além das prescrições do simbólico.
Nessa perspectiva, o sintoma é antes de tudo um fato de enrolação. Há sintoma quando o nó perfeito rateia, quando o nó se enrola, quando há, como dizia Lacan, lapso do nó. Ao mesmo tempo, porém, esse sintoma feito de enrolação é também o ponto de basta e, em particular, o ponto de basta do casal. Assim, é também o sintoma um termo Janus. O sintoma, em uma de suas faces, é o que não vai bem, e na outra, a que Lacan, recorrendo à etimologia, denominou de sinthoma, o único lugar onde, para o homem que se enrola, finalmente isso rola.